Servicios Personalizados
Revista
Articulo
Indicadores
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares en
SciELO
Similares en
SciELO
Compartir
Ciência e Cultura
versión impresa ISSN 0009-6725versión On-line ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. v.58 n.1 São Paulo ene./mar. 2006
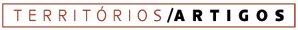
APRESENTAÇÃO
TERRITÓRIOS PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
José Eli da Veiga
Ordenar territórios. Esse novo requisito exige a superação de ultrapassadas concepções do desenvolvimento: a sustentabilidade ambiental do crescimento e da melhoria da qualidade de vida. Trata-se de um imperativo global que chegou para ficar, em virtude da percepção de que a biosfera, em nível global, regional, nacional e local, está sendo submetida a pressões insuportáveis e prejudiciais para o próprio desenvolvimento e as condições de vida. Como diz o economista chileno Osvaldo Sunkel, "este é um tema que as classes dirigentes da nossa região não poderão adiar sob pena de sofrer graves conflitos internos e sérias dificuldades internacionais" (1).
A noção de desenvolvimento sustentável, de tanta importância nos últimos anos, procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do meio ambiente. Para compreender tal vinculação, são necessários alguns conhecimentos fundamentais que permitem relacionar pelo menos três âmbitos: a) o dos comportamentos humanos, econômicos e sociais, que são objeto da teoria econômica e das demais ciências sociais; b) o da evolução da natureza, que é objeto das ciências biológicas, físicas e químicas; c) o da configuração social do território, que é objeto da geografia humana, das ciências regionais e da organização do espaço. É evidente que esses três âmbitos interagem, e sobrepõem-se, afetando-se e condicionando-se mutuamente. A evolução e transformação da sociedade e da economia no processo de desenvolvimento alteraram de várias maneiras o mundo natural. E esse relacionamento recíproco se articula e se expressa por meio de formas concretas de ordenamento territorial.
Foi somente há 70 anos que surgiu a proposta de intervenção deliberada do poder público para induzir a localização de atividades. Isto é, para ordenar o território. Mas houve significativo progresso nesse propósito de diversificar as políticas governamentais em função das necessidades específicas das regiões, ou de determinadas regiões. Hoje praticamente todos os países o fazem de alguma maneira.
O ordenamento territorial passou a ter, portanto, sentido bem mais preciso. Visa a organizar o processo de desenvolvimento no território, como alternativa ao puro e simples comportamento dos mercados, que tangem os residentes a se deslocarem para encontrar oportunidade de trabalho e geração de renda. Trata-se de uma prática que pode ter perdido legitimidade com a ofensiva neoliberal do final do século XX, mas que já volta com toda a força para as agendas de desenvolvimento.
RENOVAÇÃO Há pelo menos quatro fatores que explicam essa volta do território ao domínio da ação pública: 1. ele está no centro das estratégias que visam a competitividade e a atratividade econômicas; 2. é nele que pode ser reforçada a coesão social; 3. é o melhor instrumento de modernização das políticas públicas, já que impõe abertura e transversalidade; 4. apesar de nele estarem ancoradas as instituições locais, permanece um domínio de ação de instâncias hierárquicas superiores cujos graus de liberdade são cada vez mais condicionados pelo processo de globalização e pela construção de acordos regionais supranacionais.
Assim, renovar a concepção de território para uma política de ordenamento exige, antes de tudo, que ele seja entendido como ator de um esforço constante de desenvolvimento, mas de um desenvolvimento no qual a coesão social é simultaneamente uma aposta e uma alavanca. Neste sentido, três insights têm sido cada vez mais enfatizados: a necessidade de combinar concorrência com cooperação; a necessidade de combinar conflito com participação; e a necessidade de combinar o conhecimento local e prático com o científico.
Três lições que embutem uma interrogação central sobre as condições que permitem a emergência de instituições mais favoráveis a essas três combinações. E a resposta – como não poderia deixar de ser – é a afirmação de que o desenvolvimento depende, essencialmente, do papel catalisador que desempenha um projeto que tenha sido elaborado com ampla participação dos atores locais. Isto é, dos empreendedores privados, públicos e sociais que se identificam com determinada região.
A orientação essencial de qualquer política governamental de desenvolvimento regional só pode ser, portanto, a de estimular o surgimento desses territórios-projeto e criar as condições para que eles consigam alavancar recursos humanos e financiamentos (ou mesmo doações), tanto no âmbito nacional como internacional.
Por isso, a principal preocupação que orienta este Núcleo Temático (NT) é a de apresentar ao leitor uma pequena amostra – mas bem diversificada – dos estudos científicos que estão nessa linha de renovação da concepção de território. Com esta apresentação espera-se ampliar o contexto e tornar mais proveitosa a reflexão sobre o tema, enfocado sob diferentes abordagens nos seis artigos que compõem este NT.
DESENVOLVIMENTO REGIONAL O século XX mostrou que o Estado pode induzir a interiorização do desenvolvimento. Mas a eficiência econômica desse tipo de ação não está provada. Não há evidência científica de que o custo social dos incentivos à localização de atividades e de empresas seja inferior ao das migrações impulsionadas por aglomerações espontâneas, ou selvagens. Isto é, as que resultam da ausência de um guia governamental à distribuição da dinâmica capitalista pelo território. Mesmo investimentos em infra-estrutura, com bons impactos na produtividade, costumam ter limitadíssimos efeitos dinâmicos em economias regionais de baixo desempenho.
Não deveriam ser numerosos, então, economistas favoráveis a políticas de desenvolvimento regional, ou de ordenamento territorial. Ocorre o contrário porque não ignoram que concentração econômica, coesão social e disparidades espaciais também precisam ser contempladas com as lentes da eqüidade, e não apenas da eficiência. A rigor, essa oposição entre eficiência e eqüidade desapareceria se a primeira não fosse reduzida apenas à alocação. Vantagens distributivas e ambientais deveriam ser componentes da própria eficiência. Infelizmente, economistas não são treinados para raciocinar dessa forma. Por isso, programas explícitos de desenvolvimento regional se apóiam em critérios de eqüidade. E mesmo aí não há unanimidade, pois não falta quem entenda desenvolvimento apenas como redução da pobreza, ficando assim autorizado a desqualificar políticas governamentais com foco espacial ou territorial.
É impressionante, todavia, como períodos de redução das disparidades regionais coincidem com os de maior intervenção espacial explícita. Além disso, no Brasil surgem cada vez mais evidências de que os sucessos em programas de caráter microrregional são bem mais significativos que nos de caráter macro ou mesorregional. Tende a se formar, assim, largo consenso de que a melhor orientação normativa é a da articulação dos governos federal, estaduais e municipais para intervenções light touch capazes de espalhar e multiplicar arranques de crescimento baseado em vantagens comparativas.
O problema é que existem dois graves conjuntos de barreiras a esse avanço das formas de ação do Estado brasileiro em prol da interiorização do desenvolvimento. Um é de ordem cognitiva e outro institucional. Por um lado, há sério desconhecimento e muita confusão sobre as diferenças entre divisões oficiais e analíticas, além de políticas e econômicas, tanto em âmbito nacional como regional. Por outro, torna-se cada vez mais clara a ambivalência do arranjo federativo que resultou da Constituição promulgada no final de 1988, hoje um "Frankenstein" de emendas que lhe foram sendo acrescidas em quase 17 anos.
Apesar de já estar bem demonstrado que existem no Brasil entre 9 e 11 macrorregiões, que em nada coincidem com as velhas demarcações, quase todas as análises precisam usar os 26 estados (mais DF) agrupados em 5 regiões como principais manifestações das desigualdades espaciais. Tão ou mais delirantes são as que utilizam jurássicas dicotomias oficiais, como a do urbano versus rural (que por aqui é interna aos municípios). Ou a cômica oposição entre o Brasil metropolitano e o resto. Pois não é raro que se entenda por interior aquilo que está fora de algumas das verdadeiras 12 aglomerações metropolitanas. Ou – muito pior – fora de algumas das oficiais 27 RM (Regiões Metropolitanas) e 3 RIDE (Regiões Integradas de Desenvolvimento).
Não há exagero em se dizer, portanto, que o Brasil sofre de demência (no sentido médico da palavra) a respeito de sua hierarquia territorial. Simplesmente são ignoradas as influências cruzadas de 37 aglomerações proto-metropolitanas, 77 centros urbanos, e outros 567 núcleos, sobre os restantes 4.500 municípios nos quais a ruralidade é onipresente.
DA DICOTOMIA À TRINDADE É das mais recorrentes a oposição entre as idéias de urbano e de rural. No entanto, é inútil tentar encontrar alguma definição precisa e amplamente aceita para essas duas noções. Não seria o mesmo na Europa dos séculos X a XII, quando ocorreu a ascensão das cidades que até hoje polarizam o chamado mundo ocidental. Mas as marcas da "dicotomia cultural urbano-versus-rural" – para usar as palavras de um dos mais inteligentes historiadores econômicos, o saudoso Carlo M. Cipolla – já haviam sido rompidas nos dois séculos subseqüentes (2). A rigor, foi durante as duas últimas décadas do século XII que teve início o domínio da economia urbana no continente europeu. Momento em que foi desencadeado o complexo e heterogêneo processo que já dura bem mais de meio milênio.
Essa vasta referência histórica é fundamental para que se aceite, com tranqüilidade, a atual algaravia de convenções sobre o que deve ser considerado como população urbana ou rural, e até a impossibilidade de uma definição científica do que realmente vem a ser uma cidade e uma área rural. Quando se tenta colocar ordem nesse imenso cipoal, fica fácil perceber que hoje coexistem essencialmente três grandes abordagens que diferem pela escala: a local, a nacional, e a regional. Cada uma delas pode ter vantagens e desvantagens, dependendo do propósito com que for escolhida.
No Brasil, a mais comum – e amplamente dominante – é a primeira (municipal) por continuar em vigor desde que se tornou norma obrigatória com o Decreto-Lei 311, baixado pelo ditador Getúlio Vargas em 1938, no auge do Estado Novo. Em princípio, todo município brasileiro deve ter um perímetro urbano e uma zona rural. Quem decide os limites do primeiro são os vereadores. As Câmaras Municipais foram encarregadas de traçar os limites da sede municipal (sempre considerada uma cidade) e de eventuais sedes distritais (consideradas vilas). É claro que isso causa monumentais distorções, bastando dizer que a maior população rural está no município de São Paulo, enquanto até populações indígenas de municípios amazônicos passam a ser tão urbanas quanto os habitantes de cidades metropolitanas. Pelo simples fato de terem domicílio dentro de algum dos perímetros urbanos delimitados pelas respectivas Câmaras. No entanto, como os dois impostos territoriais foram construídos sobre essa simplória dicotomia local, nada impede que se admita, para tal fim, alguma racionalidade nessa maneira de separar o rural do urbano.
É, todavia, de ordem cognitiva uma das mais nefastas conseqüências dessa abordagem municipal. Quando são somados todos os habitantes que têm domicílios em perímetros urbanos – mesmo que sejam, por exemplo, os dos municípios do Pantanal, onde por razões óbvias ninguém pode morar fora das sedes municipais ou distritais – constrói-se, necessariamente, essa falsa idéia de que mais de 80% da população brasileira é urbana. Pior: como é sempre muito melhor morar na sede de qualquer município do que em sua periferia, desde já se pode prever que o Brasil será o primeiro país do mundo com grande território a declarar urbana toda a sua população. Pois, desse modo, não há como diferenciar os residentes do município de Laranjal do Jarí (no Amapá, com 94% da população oficialmente urbana) dos residentes de qualquer dos 200 municípios metropolitanos...
Para se evitar tão absurda visão sobre o grau de urbanização do Brasil – que necessariamente decorre da simples agregação das distinções internas aos municípios – é fundamental que se recorra a análises de hierarquia territorial, como a magnífica série de seis volumes intitulada Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil (3). Foram ali identificadas 49 aglomerações (das quais 12 metropolitanas) e mais 77 centros urbanos, que totalizavam 455 municípios nos quais residiam 57% da população de 2000. Como os demais 5.052 municípios (de 2000) eram por demais heterogêneos, foi possível estabelecer distinções por localização, tamanho populacional, e, sobretudo, por densidade demográfica (4).
Com ocupação rarefeita, os municípios que têm, simultaneamente, densidade demográfica abaixo de 80 habitantes por quilômetro quadrado e tamanho populacional inferior a 50 mil habitantes (além de não pertencerem a aglomerações urbanas) estão na base da hierarquia territorial. Esse é o Brasil rural, composto por 4.500 municípios nos quais residem 30% da população. Em situação intermediária, ou ambivalente, estariam, então, os outros 23% da população brasileira que residiam em algum dos demais 552 municípios com densidades e tamanhos populacionais superiores, mas que não chegavam a ser centros urbanos, além de não pertencerem às aglomerações.
Esse segundo tipo de abordagem, que pode ser chamada de "nacional", tem alguma semelhança com a classificação adotada pelos Estados Unidos a partir do Censo Demográfico de 2000, que rompe com a dicotomia urbano-rural ao considerar a existência de uma categoria intermediária, ou ambivalente. Todavia, a americana é ainda melhor, pois não se baseia em divisões político-administrativas. Para o U.S. Census Bureau, as áreas urbanas são as mais adensadas, com mais de 50 mil pessoas e um núcleo (core) com densidade superior a 386 habitantes por quilômetro quadrado (podendo ter uma zona adjacente com um mínimo de metade dessa densidade). Fazem parte da segunda categoria – os ditos clusters urbanos – localidades que atinjam os mesmo níveis de densidade demográfica, apesar de terem população inferior: entre 50 mil e 2,5 mil. E a população rural é aquela que está fora das duas, tanto das áreas urbanizadas quanto dos clusters urbanos. Em 2000, 68% da população americana vivia em 452 áreas urbanizadas, 11% em 3.158 clusters urbanos e os 21% restantes (59 milhões) nas imensas áreas rurais.
Essa segunda abordagem pode ser muito interessante para o estabelecimento de comparações internacionais, mas é de muito pouca valia para as ações de desenvolvimento. E foi essa a preocupação que levou a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) a propor o terceiro tipo de abordagem, de caráter regional, logo depois adotada pela União Européia (UE) (5). Afinal, toda região é uma combinação de centros e núcleos urbanos que exercem influência sobre áreas rurais. É, pois, a combinação desses dois componentes que caracterizam uma região como urbana, rural, ou ambivalente. Por isso, a UE adotou a seguinte "santíssima trindade": a) é essencialmente urbana a região que tenha menos de 15% da população em localidades rurais, b) é essencialmente rural aquela que tenha mais de 50% da população em localidades rurais; c) é significativamente ou relativamente rural a que tenha entre 15% e 50% da população em localidades rurais. E para saber se uma localidade é urbana ou rural, a OCDE usa um simples critério de corte: densidade de 150 habitantes por quilômetro quadrado.
Adaptando-se ao caso brasileiro essa terceira abordagem – de caráter regional – não é difícil perceber que existem 63 microrregiões fortemente marcadas por aglomerações nas quais está praticamente a metade da população (49%). No extremo oposto, pouco menos de um terço dos habitantes (30,9%) vivem em 388 microrregiões predominantemente rurais, pois muito pouco urbanizadas e com baixíssimas densidades demográficas. E, no meio, há 107 microrregiões de urbanização incipiente, onde reside um quinto da população (20,1%) (6).
SÉRIOS OBSTÁCULOS INSTITUCIONAIS A tanta cegueira territorial soma-se o resultado ambivalente da autonomia que foi atribuída aos 5.561 pilares desta singular república federativa tripartite. Não resta dúvida que tamanha descentralização foi benéfica para a educação e a saúde, duas das três dimensões mínimas do desenvolvimento. Prova disso é a melhoria dos indicadores desses dois trunfos sociais em enorme número de municípios com baixos ou baixíssimos níveis de renda familiar, além de medonhas ou horripilantes condições de saneamento.
Todavia, em termos de dinamização econômica, foi estéril essa pulverização das transferências de recursos públicos. O Atlas do Desenvolvimento Humano mostra que nos grotões a freqüência escolar melhorou cinqüenta vezes mais que a renda. Para disseminar alavancas da diversificação econômica, imprescindíveis à dinamização de grande parte das 390 microrregiões rurais, fica cada vez mais óbvia e insistente a necessidade de formas de cooperação, ditas "horizontais", entre municípios vizinhos. E têm sido cada vez mais freqüentes as políticas que pretendem promover essa forma de governança para a prática do desenvolvimento regional. No entanto, um balanço das melhores experiências surgidas nos dois últimos decênios mostra que essa trilha exigirá um aprendizado dos mais árduos e lentos, mesmo que venha a ser ajudado por boa regulamentação dos consórcios.
Bem mais razoável pode ser uma reforma da atual organização político-administrativa do país, que reconheça a importância do fato econômico microrregional. Caso contrário, a interiorização do desenvolvimento ficará inteiramente na dependência dos êxitos que se tornarem possíveis no âmbito de aleatórias governanças locais. Melhor seria dissolver esse gargalo institucional por uma revisão do chamado pacto federativo. Uma das inovações institucionais de maior prioridade para o processo constituinte que certamente poderá se avizinhar caso decorra das eleições de 2006 uma saudável renovação do Congresso Nacional.
Todavia, propostas de uma nova Constituinte são vistas como violação, golpe e fraude, pois a supremacia nascida em 1988 do ventre da mais elevada soberania popular deverá perdurar enquanto a atual ordem vigente não for rompida por algum golpe, ou revolução. A atual Constituição resolveu uma crise de legitimidade decorrente do assalto desferido contra o regime democrático fundado em 1946. Nasceu da necessidade absoluta de se consagrar nova idéia de direito e nova concepção de Estado. E resultou de momento histórico no qual o povo brasileiro resgatou o mais básico de seus direitos fundamentais: o de manifestar-se sobre o modo de existência política da nação pelo exercício do poder constituinte originário. Assim, qualquer novo poder constituinte seria ilegítimo neste momento. Seria um poder de desconstituição e não de constituição.
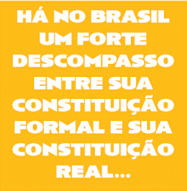
O problema é que, em 1988, foi promulgada uma Constituição tão minuciosa que atingiu 323 artigos, dos quais 73 transitórios. A ela já foram espetadas mais de 50 emendas, em menos de 17 anos. Praticamente 3 emendas por ano. E apesar de tanta bricolagem, subsistem sérios buracos negros institucionais que impedem a melhoria das condições de vida e de trabalho da maioria da população brasileira. Há no Brasil um forte descompasso entre sua constituição formal e sua constituição real: as necessidades de seu povo.
UMA AMOSTRA DAS PESQUISAS EM CURSO O que unifica os seis demais artigos que compõe este Núcleo Temático é a preocupação comum com o resgate renovado do conceito de região, possibilitando a maior atualização desse conhecimento científico, numa tentativa de solução de grandes problemas que afligem o país neste momento histórico. No fundo, os seis procuram responder a alguma(s) das três perguntas essenciais formuladas com grande simplicidade por Manuel Correia de Andrade, um dos mais importantes geógrafos brasileiros: a) até que ponto a globalização opõe-se frontalmente à regionalização? b) até que ponto o internacional necessita, para consolidar-se, asfixiar no nacional? c) até que ponto os extremos contrapõem-se e excluem-se ou, ao contrário, completam-se e dão origem a novas unidades até certo ponto libertas das partes que as compõem? E a leitura desses seis artigos certamente será um bom estímulo para consulta mais aprofundada do livro no qual o professor Manuel Correia de Andrade enfatizou as três perguntas em meio aos elogios de sua apresentação: Região e geografia, da professora da USP, Sandra Lencioni (7). E certamente também de outro, de natureza menos teórica: Regiões e cidades, cidades nas regiões, organizado por pesquisadores da Unicamp (8).
Apesar de abordarem regiões tão diferentes quanto o Mercosul e a Amazônia, os artigos dos professores Cláudio A. G. Egler e Danilo C. Igliori ilustram como a expansão das redes globais, assim como a aceleração da velocidade em seus diversos circuitos, alteram constantemente as dimensões relativas dos territórios nacionais. O primeiro destaca que apenas a expansão das redes logísticas comandadas pelas empresas não consolidará uma estrutura territorial no Mercosul, que ainda depende de efetiva intervenção dos estados nacionais. O segundo enfatiza que o primeiro passo na geração de informações para a formulação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve ser a identificação dos custos de oportunidade envolvidos nas escolhas que impactam a distribuição espacial.
Todavia, tanto a democratização da gestão pública, quanto a eficácia dos instrumentos de planejamento governamental – como os planos plurianuais e os orçamentos anuais – dependem cada vez mais de bases institucionais e organizacionais em instâncias de articulação e representação nos micro e meso-regionais. E esta é a escala focada nos artigos dos professores Pedro S. Bandeira e Regina M.P. Meyer, respectivamente sobre regionalização e urbanismo. Ao assumirem que na sociedade contemporânea é o espaço que organiza o tempo, gestores e planejadores poderão restaurar suas funções e até seu perdido prestígio por terem sucumbido à idéia de trabalhar de forma unidimensional na ordenação do território.
Finalmente, mas não menos importantes, são as análises dos professores Edson P. Domingues e Ricardo M. Ruiz sobre os processos regionais de industrialização, e do professor Jair do Amaral Filho sobre um caso específico de Arranjo Produtivo Local. Sugerem, por exemplo, que a industrialização difusa – menos exigente em termos de formação e treinamento de recursos humanos, de capacidade de articulação social, de civismo, e até de confiança mútua – esteja brotando no Brasil de maneira muito mais disseminada, abrangente e significativa do que se supõe. Principalmente porque a experiência dos principais países de industrialização tardia (latecomer economies) ensina que talvez não exista melhor alavanca de desenvolvimento local endógeno que a industrialização descentralizada.
José Eli da Veiga é professor titular da Universidade de São Paulo em economia e ciência ambiental.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Sunkel, O. "A sustentabilidade do desenvolvimento atual", in Arbix, G., Zilbovicius & bramovay, R. (orgs.). Razões e ficções do desenvolvimento. São Paulo: Editora Unesp& Edusp, pp. 267-310. 2001.
2. Cipolla C. M. Before the industrial revolution; European society and economy 1000-1700. Londres: Routledge, (3ª. edição). 1993 [c1976]. E também: Veiga, J.E. "Destinos da ruralidade no processo de globalização", in Estudos Avançados, vol. 18, nº 51, maio-agosto 2004, pp. 51-67.
3. IPEA/IBGE/Nesur-IE/Unicamp. Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil, (6 vol.), Brasília: IPEA, IBGE, Unicamp, CEF e Finep. 2002.
4. Veiga, J.E. "Desenvolvimento territorial: do entulho varguista ao zoneamento ecológico-econômico". Bahia Análise & Dados, v. 10. nº 4, Março 2001, pp. 193-206. E também: Cidades imaginárias – O Brasil é menos urbano do que se calcula, Campinas, SP: Editora Autores Associados. 2002.
5. OCDE. "Creating rural indicators for shaping territorial policy", Paris: OCDE, 1994. E também: "Territorial indicators of employment". Paris: OCDE, 1996.
6. Veiga. J.E. "A dimensão rural do Brasil", in Estudos Sociedade e Agricultura, nº 22, Abril 2004, pp. 71-94. E também: "A relação rural/urbano no desenvolvimento regional", in Cadernos do Ceam (Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, UnB), Ano V – nº 17, Fevereiro 2005, pp. 9-22.
7. Lencione, S. Região e geografia. S.Paulo: Edusp. 1999.
8. Gonçalves, M.F., Brandão, C.A. e Galvão, A. C. Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora Unesp: Anpur. 2003.













