Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
Links relacionados
-
 Citado por Google
Citado por Google -
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Ciência e Cultura
versão impressa ISSN 0009-6725versão On-line ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. v.59 n.1 São Paulo jan./mar. 2007
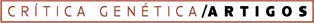
CRÍTICA GENÉTICA, HISTÓRIA E SOCIEDADE
Roberto Zular
Entre as muitas maneiras de estabelecer a relação entre crítica genética, história e sociedade, este pequeno artigo tratará do trabalho com os manuscritos do ponto de vista das práticas de escrita. Trata-se, aqui, tão somente de pontuar alguns pressupostos e conseqüências dessa abordagem das práticas, tendo como ponto de partida não os próprios manuscritos, mas as teorias críticas que abordam aspectos históricos e sociais da literatura.
De Bourdieu a Foucault ou de Benjamin e Adorno a Antônio Cândido, dificilmente se encontrará alguém que tenha tentado pensar a relação entre literatura e sociedade, atravessada pela história, sem considerar em algum momento as práticas de produção escrita. Todos eles, ainda que se pesem os diferentes pontos de vista, ao considerarem essas práticas de produção, esbarram na análise dos manuscritos. Afinal, não seriam eles um meio interessante para se verificar as marcas sociais que permeiam a produção artística?
Falar em práticas significa estar um passo além ou aquém dos movimentos literários, da determinação dos gêneros ou das regras retóricas. As práticas envolvem essas determinações, mas não as tomam como pressupostos teóricos in abstrato e, sim, como parte dos materiais que são colocados em jogo na realização artística. Ao pensarmos nesses pressupostos como materiais, vemos o quanto a forma artística é historicamente formada ou, mais ainda, o quanto a forma é um processo de auto-organização da matéria, pensada em sua historicidade radical.
Pelo fato de a crítica genética enfatizar o "fazer" como aspecto fundamental do que quer que se entenda por arte, tem-se que esse fazer está ancorado em um determinado tempo histórico e, por conseqüência, ligado às condições de produção que ele impõe. Daí porque, segundo Roberto Schwartz, numa visada materialista da literatura, grandes escritores, como Machado de Assis, não tendem a se excluírem dessas práticas de produção. Ao contrário, procuram sopesar suas condições sociais, o que, por sua vez, dá peso e ossaturas reais à escrita.
"A inspiração materialista de nosso trabalho não deve ter escapado ao leitor. O caminho que tomamos entretanto vai na direção contrária do habitual. Ao invés do artista aprisionado em constrangimentos sociais, a que não pode fugir, mostramos seu esforço metódico e inteligente para captá-los, chegar-se a eles, lhes perceber a implicação e os assimilar como condicionantes da escrita à qual confere ossatura e pesos reais. A prosa disciplinada pela história é o ponto de chegada do grande escritor, e não o ponto de partida, este sempre desfibrado, na sociedade moderna, pela contingência e o isolamento do indivíduo" (1)
Em outras palavras, a realidade social que perpassa a escrita não é alheia à crítica das condições de possibilidade de um discurso, isto é, a um processo crítico interno às suas condições de produção. Nas palavras de Philippe Willemart, em um viés mais cultural e psicanalítico, o escritor questiona quem o pressiona, remaneja a cultura e lhe dá outras dimensões (2).
Se nos permitimos, no parágrafo acima, aproximar duas visões muitas vezes tidas como antagônicas na crítica literária, é porque vemos o quanto essa visada materialista (que pressupõe um complexo realismo que funciona como ponto de chegada das práticas e não como ponto de partida) e a visada cultural ou psicanalítica podem ser vistas a partir de outro ângulo. A aproximação parte de uma concepção da linguagem que a toma como uma realidade em si mesma e que, performativamente, constitui a realidade que enuncia. O realismo, portanto, dependeria do modo como o peso real da linguagem é assumido na dinâmica de suas formações históricas, as quais são tratadas, também formalmente, no interior das práticas.
Para tirar todas as conseqüências dessa visão da literatura como parte, ela mesma, de um processo social, precisamos de uma teoria da linguagem que nos deixe mais perto desse viés literário como produção de realidade, isto é, da literatura como aquilo que faz, inventa, produz, mais do que representa. Penso, aqui, na teoria do performativo que propõe a existência de determinado tipo de enunciados que não são nem verdadeiros nem falsos. Esses enunciados performativos realizam aquilo que enunciam, criam uma realidade a partir de sua própria enunciação. Por exemplo, quando digo "eu prometo", realizo a ação de prometer no próprio ato de enunciá-la, pouco importando se eu cumprirei a promessa ou não. No âmbito da literatura, isto quer dizer que ela faz alguma coisa independentemente do suposto mundo que representa, mundo esse que, como vimos, está entranhado na historicidade de suas condições de possibilidade.
Essa noção de performativo, tão cheia de tensões na formulação de seu próprio inventor, John Langshaw Austin, foi largamente discutida por teóricos da literatura como Culler, Compagnon, Costa Lima, entre outros. Deixando de lado as divergências entre eles, a visão performativa da linguagem ataca o binômio literatura e sociedade para mostrar o quanto a prática literária é por si mesma um fato social. Basta que imaginemos a quase infinita cadeia de condições sociais que a tornam possível: o aprendizado da língua e da escrita, o desenvolvimento de materiais para que essa escrita seja efetivada (papel, tinta, escrivaninha, computador, etc.), os meios de circulação dessa escrita (cartas, livros, jornais, internet, etc.), a existência de um público leitor, a criação de uma instituição chamada literatura, o lugar social do escritor, o universo de discursos no qual algo como um discurso literário pode surgir
Essa visão performativa, por sua vez, ao atentar para as condições de enunciabilidade da literatura, exige sua compreensão dentro de uma historicidade radical: não se pode entendê-la senão a partir de suas situações de enunciação, as quais, por sua vez, envolvem suas condições históricas de produção e de leitura. Dessa maneira, sequer podemos falar de "literatura" como um termo aplicável a todas as produções escritas de todas as épocas. Como tem insistido João Adolfo Hansen, a instituição literária é uma invenção bastante recente que se configura a partir do século XVIII. Mais do que isso, ela está ligada à própria noção de ficcionalidade, termo criado para distinguir a literatura da história e que só pode ser entendido dentro de um amplo rol de atos performativos que estruturam as sociedades democráticas, como, por exemplo, os atos constituintes do universo político, geralmente compilados em Constituições.
Por outro lado, essa historicidade permite respeitar a especificidade de contextos de produção que pressupõem determinações retóricas e sistemas de gêneros (que alteram por completo os horizontes de produção e de leitura), como também permite respeitar concepções de produção, que envolvem outros dispositivos, muitas vezes pautados em experiências religiosas ou místicas, como as de São João da Cruz ou mesmo de Mallarmé.
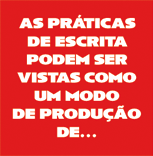
A despeito do interesse que a crítica genética desperta na concepção de uma teoria das práticas de produção escrita, a eficácia de sua realização depende do afastamento de critérios anacrônicos muitas vezes tidos como universais. Isto é, a ênfase que a crítica genética dá ao fazer literário, pressupõe um cuidado com a especificidade dos modos de produção.
A crítica genética, ao explorar a materialidade dos vestígios dos atos de produção e mesmo os horizontes de expectativa técnicos e retóricos que envolvem esses atos, tem uma peculiaridade em relação às outras práticas críticas, por alterar a própria materialidade dos textos, os quais passam a ser lidos conjuntamente com os manuscritos. Daí porque é difícil separá-la da estética da recepção, seja por essa transformação do modo de leitura dos textos, seja por perscrutar os horizontes de expectativa que acompanham as práticas de produção.
Antônio Cândido, ao menos desde a Formação da literatura brasileira, tem atentado para a dinâmica envolvida no movimento basculante entre produção e recepção que estaria em jogo na configuração de uma literatura nacional. Independentemente desse critério de nacionalidade, é possível ver a crítica genética como um dispositivo crítico interessante para tratar desse sistema dinâmico que se forma entre autores, obras e leitores, dispositivo que implica uma reconceituação dessas categorias constitutivas do sistema.
Os estudos genéticos, pensados na chave da visão performativa, desconfiam da noção de autoria ao perceberem que ela funciona muito mais como critério de recepção, isto é, na visão de Foucault em O que é um autor (3), como critério que estabelece modos de seleção, valoração e circulação de determinados textos. A ênfase passa então do autor para as práticas produtivas, as quais, ao seu turno, desestabilizam a noção de obra como um todo fechado e acabado. Isto não quer dizer que entramos no universo pós-moderno de total dessubjetivação e de um culto ao inacabado, ao volátil, ao efêmero.
Primeiramente, a crítica genética permite trabalhar a subjetividade como um dos vetores que entram em jogo na escrita e que, muitas vezes, não é pressuposto dela, mas uma resultante. As práticas de escrita podem ser vistas como um modo de produção de subjetividade, hipótese que Philippe Willemart vem desenvolvendo há tempos.
Ao deixar a autoria como uma variável a mais no jogo da escritura, Willemart separa a autoria da subjetividade, como também distingue o narrador ou a instância de enunciação de um poema da presença fantasmática do autor. Em um viés lacaniano próximo de Willemart, essa destruição do pequeno eu imaginário (implícita no artifício da autoria) está ligada à pulsão de morte que, nos termos de Wladimir Safatle:
"( ) marca a dissolução do poder organizador do Simbólico que, no limite, nos leva à ruptura do eu como formação imaginária. Neste ponto, Lacan está muito próximo de Deleuze, outro que procurou compreender a pulsão de morte para além da repetição compulsiva do instinto bruto de destruição. Pois é de Deleuze a afirmação, absolutamente central para aceitarmos a estratégia lacaniana, de que a morte procurada pela pulsão é : "o estado de diferenças livres quando elas não são mais submetidas à forma que lhes era dada por um Eu; quando elas excluem minha própria coerência, assim como de outra identidade qualquer. Há sempre um morre-se mais profundo do que um morro. Desta forma, o negativo da morte pode aparecer como figura do não-idêntico. " (4).
Para Willemart, essa figuração do não-idêntico se atualiza em um movimento contínuo entre várias instâncias que se retro-alimentam: escritor, scriptor, narrador e autor. Assim, o escritor empírico, aquele que realiza as práticas, é subsumido por uma instância em que prepondera a escritura e que determina de fora os caminhos (o scriptor), passando pelo foco de um narrador e dependendo do olhar constante do autor – primeiro leitor, não esqueçamos – que admite os efeitos produzidos, concluindo as várias etapas até a efetiva publicação, posição esta que pode ser ocupada por outro sujeito. Dessa forma, Willemart respeita e integra num espaço de relações a figura empírica do escritor (ligada à experiência, às formas de percepção, sua posição social), uma instância determinada pelo jogo com a linguagem; outra, sempre em regime de retro-alimentação, que opera a mediação por um narrador ou enunciação poética, na qual o imaginário é fundamental e as situações de enunciação respondem a situações construídas ficcionalmente; e, por fim, a instância da autoria no interior do processo (como aceitação de efeitos de sentido), à qual acrescentaríamos uma instância exterior, isto é, a função-autor que trata Foucault no texto antes citado.
O mesmo tipo de reflexão – que não nega a instância da autoria, mas que também não se subsume a ela – pode ser desenvolvido no que toca à noção de obra, cuja completude e totalidade é posta em questão pelas delimitações das práticas e suas configurações históricas, que exigem novas formas de inteligibilidade. Um modo de atravessar sucintamente essa desestabilização da noção de obra é pensar as rápidas mudanças que têm ocorrido nos meios digitais ou, em um passado nem tão distante, os efeitos causados pela generalização do uso da imprensa, fortemente ligados ao surgimento de formas literárias como o conto e o romance. Vários estudos genéticos, como os de José Alcides Ribeiro, vêm mostrando as transformações pelas quais passam diversos romances quando publicados em periódicos ou em formato de livro.
Façamos uma pequena parada antes de continuarmos. Do que foi tratado até aqui, podemos dizer que, em suma, trata-se de deslocar os problemas teóricos da formulação de um conceito de "processo de criação" para uma teoria das práticas de escrita, práticas essas que, a nosso ver, estão intrinsecamente ligadas às configurações históricas e sociais.
Desse sumário resulta que a relação entre literatura, história e sociedade que propomos, evita confundir a historicidade com estabelecimento simplista de paralelos entre acontecimentos literários e fatos históricos, que muitas vezes, pretendendo falar da realidade, não é mais que a aplicação de lugares comuns do discurso histórico e social aos textos literários. De fato, o que muitas vezes se trata como "a realidade" representada pela literatura, é um artifício intertextual (tantas vezes tido como oposto ao realismo!) entre sociologia, história e crítica literária.
Ao trabalharmos com a dinâmica das instâncias, procuramos desvincular as práticas literárias de uma relação puramente imaginária entre leitor e autor, de um universo pré-edípico ou paradisíaco que possibilitaria, depois da derrocada da teoria, uma relação imediata e acrítica com os textos, muitas vezes equivocadamente chamada de "leitura imanente". Nesse ponto, não por acaso, confluem a psicanálise e a crítica social, ao separarem a nossa pequena existência individual de leitores das dinâmicas subjetivas e sociais que pressupõem uma mediação pela alteridade, chame-se ela "Outro" (na formulação de Lacan), ou sociedade. No dizer de Adorno:
"O totum das forças investidas na obra de arte, aparentemente algo de subjetivo apenas, é a presença potencial do coletivo na obra, em proporção com as forças produtivas disponíveis: contém a mônada sem janelas. É o que se manifesta de maneira mais drástica nas correções críticas do artista. Em cada melhoramento, a que se vê obrigado, freqüentemente em conflito com o que ele considera o primeiro impulso, trabalha ele como agente da sociedade, indiferente quanto à consciência desta. (d.m.)" (5)
A entrada no interior das práticas nos leva a uma alteridade irredutível, a um falar que diz mais do que diz, a uma enunciação que transcende o enunciado, a uma determinação que nos vem de fora e na qual tanto jogamos quanto somos jogados.
Não fosse essa alteridade, esse limite negativo, esse processo que leva para algo além dele mesmo, qual seria a necessidade da arte? Para simplesmente desvelar ou expressar o que já estava lá? Isto é, não seria mais produtivo pensar a arte como aquilo que exige de nós criação para que possamos dar a ele realidade? Como aquilo a que nos aproximamos somente pela construção formal?
Um dos maiores desafios que se coloca para a crítica genética reside na compreensão desse terreno movediço e fértil que surge na passagem das práticas às formas. Ora, se admitimos a forma como algo que está para além do seu processo de formação, como esse salto no abismo que extrapola as determinações das práticas ainda que intrinsecamente relacionada a elas, somos obrigados a pensar nos limites éticos da prática do geneticista. Essa ética das formas não é estranha à postulada por Lezama Lima:
"O secreto desenvolvimento de uma obra, anterior a seu surgimento e justificativa, permanece como cerrado feudo de conduta. Como incorporá-lo à obra de arte? Talvez esse mecanismo não possa ser transmitido, pois para obter seu ganho ético, sempre será preciso começá-lo de novo, e então veríamos esse trabalho mecânico como uma obra realizada, mas cujos recursos generantes seriam sempre inadvertidos enquanto se produzem" (6).
COMO INCORPORÁ-LO À OBRA DE ARTE? Eis a questão que perpassa o movimento das práticas à forma: quanto ou o quê do processo de produção deve ser exposto? Quais os limites para configuração de um objeto que se pretenda autônomo em relação ao seu modo produtivo? Do que vimos até aqui, creio ficar claro que a idéia de "autonomia relativa" da arte é uma abstração que só faz sentido quando pensada como uma postura ética – de recusas, de rigor, de desprendimento – que só pode se dar no interior das práticas. Creio que não temos como fugir da aporia: a busca de autonomia, muitas vezes contrária às práticas, só pode ser pensada a partir delas.
Por outro lado, é cada vez mais evidente, nas práticas contemporâneas, um movimento contrário ao da autonomia e que chega mesmo a fundir as práticas de produção com os modos de exposição. Esse movimento pode ser visto como a radicalização de um grande arco histórico que começa com a questão da reflexividade nos primeiros românticos alemães, passando, por exemplo, pelos manifestos modernistas (que são em boa parte discussões sobre práticas de produção) e pela publicação de manuscritos pelos próprios escritores (como no caso de Francis Ponge). A crítica genética, de certa forma, apenas responde a essa demanda de reflexão sobre as práticas produtivas da própria literatura.
No entanto, é na cultura contemporânea que a questão dos limites se faz ainda mais necessária diante do desejo de transparência, do culto da auto-exposição ou da constância da pergunta "como você escreve?". Quando não há qualquer coisa que seja produzida na intimidade que não alcance um valor mercadológico no instante seguinte (premência que sofrem com muita força os manuscritos de trabalho, as cartas, etc.), seria interessante que o crítico genético se perguntasse pelos limites de sua própria pesquisa. Isto é, o trabalho do geneticista, com mais força do que qualquer outro trabalho crítico, é um trabalho que depende do questionamento constante de seus próprios pressupostos.
Crítica da crítica ou escrever sobre escrever, esse movimento reflexivo que embaralha as práticas de escrita e de leitura – do qual Borges tirou as conseqüências ficcionais mais irônicas e paradoxais – para não se perder no infinito – ou para sair do xeque-mate da nova reflexividade tratada como um drama da leitura por Borges – depende de um olhar atento à especificidade dos objetos, posto que estéticos, em torno dos quais as práticas se formalizam.
A forma vista a partir das práticas e da performatividade da linguagem, torna-se, assim, ela mesma uma questão social e histórica, num movimento crítico capaz de questionar as construções simbólicas que emergem em dada configuração histórica e social.
Nesse quadro, a crítica genética tem uma dificuldade suplementar que advém da percepção de sua intrínseca relação com as práticas artísticas que lhe são contemporâneas. Daí pensarmos em uma ética das formas ou, em termos foucaultianos, em um trabalho com os limites no limite mesmo da opacidade dos objetos: "penso que é sempre necessário um trabalho sobre os nossos limites, isto é, um trabalho paciente que dá forma à impaciência da liberdade" (g.m.).
Roberto Zular é docente do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (USP). Organizou o livro Criação em processo. Ensaios de crítica genética e, com Claudia Amigo Pino, publicará em breve, pela Martins Fontes, Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Schwarz, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo – Machado de Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1991, p.225.
2. Willemart, Philippe. Universo da criação literária. São Paulo: Edusp, 1996.
3. Foucault, Michel. O que é um autor?. Lisboa: Passagens, 1992.
4. Safatle, Wladimir. A paixão do negativo. Lacan e a dialética. São Paulo: Unesp, p.277. 2006.
5. Adorno, T.W. Teoria estética. Portugal, Edições 70, p. 68. 1992.
6. Lima, Lezama. A dignidade da poesia. São Paulo: Ática, p. 38. 1996.













