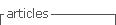Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
Print version ISSN 0009-6725On-line version ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. vol.62 no.3 São Paulo 2010
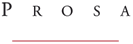
LUIS DOLHNIKOFF
A QUARENTENA
Christopher Armstrong era magro. Mas, como diz seu nome, não era fraco. Um tipo, digamos, seco. Seu rosto não parecia ter carne, mas apenas uma pele espessa posta diretamente sobre os ossos. O que tornava os olhos saltados, grandes olhos azuis sobre um nariz fino. Os cabelos cinza cortados rente. Olhava firmemente seu interlocutor, como se o avaliando, mais do que ouvindo, mas sem parecer distraído ou ameaçador. Jamais respondia a qualquer pergunta sobre si mesmo, sem nunca ser mal educado, apenas desviando firmemente o assunto com outra pergunta qualquer. Na véspera de sua partida, convidou-me para tomar um uísque. Fazia comparações entre o Caribe e a África, e a certa altura me disse que fora a vida inteira um mercenário.
Não que gostasse de matar pessoas, pois, neste caso, seria simplesmente um assassino, "o que dá bem menos trabalho e impõe muito menos riscos". Mas nunca soubera fazer outra coisa senão lutar, e desde que dera baixa das forças especiais, não conseguia conviver com "a vida tediosa dos cidadãos decentes". Poderia ir para Montana ou o Alasca com uma mulher que o amasse, vivendo em um lugar de grandes amplidões onde a vida ainda fosse relativamente dura, mas jamais encontrou essa mulher. Então continuou a lutar, com um pequeno grupo de camaradas que se dispersavam um tanto a esmo entre cada serviço, e voltavam a se juntar para o próximo. Gostava da África e dos africanos, mas não dos governantes africanos, e portanto não via problema em ganhar algum dinheiro para "trocar um filho da puta por outro". Quando lhe perguntei sobre os massacres de civis que ritualmente acompanham cada movimento militar no continente, respondeu que isso era entre os africanos.
Fora capturado e torturado algumas vezes, e ferido outras tantas. Amara uma mulher de certa tribo que lutava então com seus homens, e que por isso foi morta por um guerreiro a quem tinha sido prometida. A miséria humana na África não podia ser imaginada, mas, ao mesmo tempo, a vida ali ainda tinha um sentido que perdera em outros lugares. O sentido da tragédia, arrisquei. Ele continuou afirmando que já ouvira muitos idiotas glamourizarem a vida primitiva, que aliás quase não existia mais, mas o fato é que não conseguia compreender. Era o que mais o angustiava, saber dessa miséria literalmente indescritível e desse sentido vital, e não poder estabelecer entre eles uma relação de causa e efeito, nem tampouco anular qualquer termo da equação.
Algo semelhante acontecia com a mulher que o acompanhava, uma loira muito alta chamada Liz: deitada ao nosso lado numa espreguiçadeira, à beira de uma piscina vazia, seu azul compacto quase solidificado pela inércia, enquanto lentamente amanhecia, acompanhava a conversa e o esvaziar da garrafa de uísque sobre a mesinha branca parecendo ter um interesse genuíno pelo homem, enquanto não conseguia abandonar de todo certa indiferença de profissional. Eu notara, em todo caso, que Christopher Armstrong, sem ser bonito, ou mesmo jovem, atraía especialmente os olhares femininos. Era algo em sua segurança natural, muito distinta da segurança epidérmica dos ricos, que desaba sob a menor adversidade, e na simplicidade elegante das roupas, uma calça preta e uma camisa branca, sem que se pudesse adivinhar sua riqueza, origem ou profissão.
Não me surpreendi ao perceber que não ficava bêbado. Parecia, ao contrário, cada vez mais lúcido, de uma lucidez irônica. Dizia que não desejava estar vivo daqui a alguns anos, porque "as coisas iriam esquentar". O problema, dizia, é que desde o fim da Guerra Fria "as coisas" foram escapando das mãos dos profissionais para as dos malucos. Havia uma guerra civil no islã, e não "essa porcaria de guerra de civilizações", mesmo porque a guerra de civilizações já tinha acontecido: a história não tinha sido outra coisa nos últimos séculos, e o Ocidente, que a iniciara, vencera. Mas parecia não se dar conta inteiramente de que vencera. Ou então estava cansado de vencer, o que é o mesmo que estar cansado de lutar, com exceção dos EUA. E o fato de a velha Europa nem seguir os EUA nem ter força ou vontade para impor outro caminho, servia apenas para prolongar a guerra. A guerra civil islâmica era, de certa forma, uma guerra mundial, mas, ao mesmo tempo, uma guerra interna: em suma, uma guerra interna mas não hermética. Tudo isso faria o mundo "ficar esquisito" por muito tempo, como se francamente em guerra, apesar de esta não ser uma guerra franca. Fora-se para sempre o tempo das viagens despreocupadas pelo mundo, que serviam para ele e seus camaradas se diluírem entre os turistas. O mundo, concluiu, era agora uma quarentena, um arquipélago de quarentenas, fazendo com que se tivesse de ser examinado a cada deslocamento, e eventualmente observado dentro de casa. E essa quarentena não terminaria em algumas semanas.
Ele então virou um grande gole de uísque e perguntou a Liz, que parecia cochilar de olhos abertos, se não gostaria de viver em Montana. Liz era tcheca, e não especialmente dotada em geografia, pôde perceber: "Onde é isso?". Armstrong lhe disse ser onde antigamente viviam os índios, e onde hoje moravam alguns homens que não gostavam muito da vida nas cidades. Ao que ela respondeu que poderia muito bem viver numa grande casa de campo com piscina. Ele deu um quase sorriso, esvaziou o copo, ficou lentamente de pé e me estendeu a mão. Pôs delicadamente um braço na cintura de Liz enquanto caminhavam em direção ao bangalô.
Luis Dolhnikoff é autor, entre outros, de Lodo (Ateliê, 2009) e do livro inédito de contos A quarentena, de que faz parte o conto homônimo