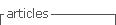Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
On-line version ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. vol.66 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2014
http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252014000400010

A ditadura nas universidades: repressão, modernização e acomodação*
Rodrigo Patto Sá Motta
O foco nas instituições de ensino superior nos oferece a oportunidade de observar a atuação dos militares e seus aliados civis em área estratégica e de grande repercussão. Nas universidades, os paradoxos e as ambiguidades do regime militar se manifestaram plenamente, revelando a complexidade dessa experiência autoritária. De fato, o regime político construído a partir de 1964 teve dupla dimensão: ele foi, simultaneamente, destrutivo e reformador, e, nunca é demais ressaltar, o seu impulso modernizador foi viabilizado por meios repressivos.
Porém, tal como nas outras áreas do novo governo, a política universitária não estava pronta em 1964, pois os vencedores não tinham rumos claros sobre o que fazer após a conquista do poder, salvo a necessidade de "limpar" o país de inimigos reais e imaginários. Os grupos que deram sustentação ao golpe de 1964 compunham frente heterogênea: liberais, conservadores, reacionários, nacionalistas autoritários e até alguns reformistas moderados receberam com alívio o golpe, pois haviam perdido a confiança no governo de João Goulart. O único consenso era negativo: tirar do poder um governo acusado de conduzir o país para o precipício.
O golpe de 1964 não foi um movimento essencialmente antirreformista, mas, sobretudo, anticomunista. Tradição política enraizada no Brasil desde os anos 1930, quando foi construído o mito da "Intentona Comunista", o anticomunismo ocupou lugar central nos embates dos anos 1960, alimentado nesse contexto pela cultura da Guerra Fria e pela ascensão de movimentos sociais hegemonizados pela esquerda. A campanha contra os comunistas que, na verdade, gerou expurgos que afetaram setores muito mais amplos do campo "progressista", foi a principal justificativa de apoio ao golpe de 1964 aos olhos de parte expressiva da opinião pública.
No entanto, uma parcela dos grupos golpistas era favorável a reformas, desde que afastado qualquer perigo de radicalização e fortalecimento de lideranças revolucionárias. Também à direita aceitava-se o argumento reformista de que as universidades precisavam de mudanças para superar certos arcaísmos. A unidade básica das faculdades eram os catedráticos, professores poderosos que, entre outros privilégios, tinham cargos vitalícios. Tal sistema era considerado responsável pela fraca produção de conhecimento e pela apatia dos professores situados nos níveis hierárquicos inferiores. Outro problema sensível era a escassez de vagas para os jovens em condições de ingressar na universidade, um grupo em expansão devido ao aumento das taxas de urbanização e ao crescimento demográfico nos anos 1950-60.
Nesse quadro, era forte a sensação de que as universidades precisavam ser transformadas, embora os projetos político-ideológicos em disputa divergissem sobre os rumos a adotar. De modo simplificado, esquerda e direita convergiam no diagnóstico de que era necessário modernizar e produzir mais conhecimento, porém, os primeiros desejavam também situar as universidades ao lado das causas socialistas. Esse era o tom dos debates sobre reforma universitária organizados, antes de 1964, por lideranças estudantis e pela União Nacional de Estudantes (UNE), que almejavam também mudar a estrutura de poder dentro das instituições de ensino. A partir de tais debates, a demanda por reforma universitária foi incorporada às "reformas de base" anunciadas por João Goulart, cujos planos incipientes para o ensino superior não tiveram oportunidade de se concretizar.
Entre os adversários das esquerdas, sobretudo nos grupos influenciados por argumentos liberais, circulavam também teses reformistas. Entretanto, ao contrário da perspectiva socialista e revolucionária, eles queriam mudar o ensino superior para torná-lo mais eficiente e produtivo, tendo em vista as necessidades do desenvolvimento econômico e de modernização da máquina pública. Conferia-se ênfase ao ensino técnico, em detrimento da tradição humanista, e privilegiava-se o desenvolvimento tecnológico, em prejuízo da pesquisa voltada para a ciência pura (1). Para as vertentes à direita, as universidades não precisavam ser públicas e tampouco gratuitas. Ao contrário, questionava-se o estatuto da gratuidade do ensino e defendia-se a cobrança de taxas dos estudantes que pudessem pagar.
Assim, nos debates políticos e culturais realizados no início dos anos 1960 era amplo o leque das opções para o futuro do Brasil. Com a vitória da coalizão golpista e a derrota política das esquerdas, acabou por vencer uma vertente autoritária e liberal-conservadora do projeto modernizador que, paradoxalmente, se apropriou de ideias sugeridas por líderes derrotados em 1964.
A política universitária implantada pela ditadura foi se desenhando ao longo do tempo, e suas linhas mestras só se definiram plenamente no início dos anos 1970, resultando de choques entre grupos e opiniões divergentes, da pressão do movimento estudantil e da apropriação de ideias gestadas no pré-1964, inclusive do próprio conceito de reforma universitária. A reforma afinal realizada pelo regime militar foi o efeito paradoxal de pressões contrárias, de liberais, conservadores, militares, religiosos, intelectuais (e professores universitários), a que se somaram os conselhos de assessores e diplomatas norte-americanos, tendo como cenário de fundo a rebeldia estudantil. A ditadura, apesar do poder autoritário de que dispunham seus líderes, acabou por acomodar essas pressões e opiniões diferentes, do que derivaram políticas paradoxais e, às vezes, contraditórias.
CARÁTER MODERNIZADOR-AUTORITÁRIO DO ESTADO Praticamente desde o seu início tem-se procurado conceituar adequadamente o regime político que surgiu a partir de 1964. Há bastante tempo tornou-se corrente a adoção de conceitos como modernização conservadora ou autoritária para explicar o que aconteceu no Brasil após o golpe. Esse campo conceitual é atraente por expressar bem os paradoxos de um projeto marcado pela heterogeneidade política. No barco da ditadura viajaram juntos grupos com ideias e propostas diferentes. Por isso, há que distinguir entre conservadorismo e autoritarismo nas políticas implantadas pelo regime militar. O impulso conservador foi importante na montagem do Estado pós-64, expressando anseios de manutenção do status quo e da ordem tradicional. No entanto, em vários momentos, as demandas conservadoras entraram em contradição com os propósitos dos grupos modernizadores; às vezes os conservadores levaram a pior em tais disputas, enquanto o autoritarismo sempre esteve presente na ditadura, em que pesem certas ambiguidades e a influência moderadora da opinião liberal, que também ocupava espaço nesse "barco".
São recorrentes na história brasileira e fazem parte de sua cultura política as experiências de modernização conservadora e autoritária – processos de mudança contraditórios em que o novo negocia com o velho, mantendo em vigor e atualizando certos traços do passado, enquanto outros são transformados. Pode-se chamar isso de arte de fazer mudanças conservando, processo que teve momentos culminantes nas duas grandes ditaduras do século XX, o Estado Novo e o regime militar. Certos aspectos tradicionais do comportamento político (principalmente dos grupos dirigentes brasileiros) se reproduziram durante o regime militar, em especial a tendência à conciliação e acomodação, estratégia utilizada para evitar conflitos agudos, e o personalismo, entendido como prática arraigada de privilegiar laços e fidelidades pessoais em detrimento de normas universais.
A influência de tais características da cultura política brasileira ajuda a explicar o caráter modernizador-autoritário do Estado durante o regime militar, inclusive em sua manifestação específica nas universidades. Além disso, o influxo cultural pode ajudar a compreender, também, o modo peculiar como se deram as relações do aparato repressivo com os meios acadêmicos e intelectuais. Como sabemos, as ações repressivas da ditadura foram intensas e provocaram violência e perseguições de diversas naturezas, desde a prisão, a expulsão do serviço público, a censura, para não falar de ações mais cruentas como tortura e morte. Esse impulso repressivo é inerente à ditadura e não pode ser minimizado, nem perdoado. No entanto, nos meios acadêmicos, tais relações foram permeadas também por jogos de acomodação, estratégias de ação que não se enquadram bem em análises binárias.
O tema da tradição conciliatória mereceu a atenção de autores influentes no pensamento social brasileiro, tanto nacionais como estrangeiros (2). Os analistas da "conciliação", tema que já se tornou clássico, convergem para a interpretação de que a cultura brasileira tem como marcas centrais a flexibilidade, a recusa a definições rígidas e a negação dos conflitos, que são evitados ou escamoteados por meio de ações gradativas, moderadoras, conciliatórias e integradoras. Ressalte-se: a recusa de reconhecer e agudizar os conflitos, a tentativa de negá-los ou contorná-los, serve à manutenção da ordem desigual e elitista, pois as estratégias conciliadoras ajudam a escamotear os problemas sociais e a exclusão política, bem como a postergar sua solução.
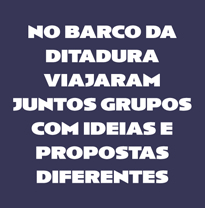
Assim, é forte na nossa cultura o recurso à conciliação, à busca de soluções de compromisso que evitem o caminho de rupturas radicais. Procura-se acomodar os interesses de grupos em disputa, em um jogo de mútuas concessões, para evitar conflito agudo, sobretudo quando os contendores principais pertencem às elites sociais. Entretanto, nem todos os agentes políticos fazem uso de tais estratégias, e os que o fazem não são movidos por lógica férrea ou qualquer forma de determinismo, pois, em alguns contextos, os apelos à conciliação não são bem recebidos. A conciliação e a acomodação fazem parte do repertório de estratégias à disposição dos que disputam os jogos de poder no Brasil – ou seja, elas integram a cultura política do país –, e, como há larga tradição e vários exemplos bem-sucedidos, muitos líderes são incentivados a escolher tal caminho, na esperança de construir projetos políticos estáveis.
A percepção da influência desses traços arraigados na cultura – levando em conta também a heterogeneidade das bases de apoio da ditadura – permite compreender os paradoxos e as contradições das políticas dos governos militares, que, de outro modo, poderiam parecer caóticas e irracionais. O Estado construído após o golpe de 1964 representou tentativa de conciliar demandas opostas, já que o caráter heterogêneo de sua base de apoio gerou pressões em direções contrárias. Em lugar de fazer escolha clara e irrestrita por alguma das opções – como, por exemplo, fez a ditadura chilena em favor de programa econômico liberal –, os dirigentes brasileiros preferiram atender a projetos diferentes e estabelecer compromissos.
Observando o quadro geral, pode-se dizer que o propósito modernizador se concentrava na perspectiva econômica e administrativa, com vistas ao crescimento, à aceleração da industrialização e à melhoria da máquina estatal. Já o projeto autoritário-conservador se pautava em manter os segmentos subalternos excluídos, especialmente como atores políticos, bem como em combater as ideias e os agentes da esquerda – por vezes, qualquer tipo de vanguarda – nos campos da política e da cultura, defendendo valores tradicionais como pátria, família e religião, incluindo a moral cristã.
No que toca especificamente às universidades, a modernização conservadora implicou: racionalização de recursos, busca de eficiência, expansão de vagas, reforço da iniciativa privada, organização da carreira docente, criação de departamentos em substituição ao sistema de cátedras, fomento à pesquisa e à pós-graduação. Para viabilizar a desejada modernização, sobretudo durante o período inicial do regime militar (1964-68), enfatizou-se a adoção de modelos universitários vindos dos países desenvolvidos, em particular dos Estados Unidos.
Os militares e seus aliados civis implantaram reformas (3) de impacto duradouro no ensino superior que ainda dão forma ao nosso sistema universitário, embora mudanças visando à democratização tenham sido adotadas em anos recentes. Da estrutura departamental ao sistema de pós-graduação, passando pelos exames vestibulares (neste momento em processo de mudança com a adoção do sistema Enem), a base da estrutura universitária em vigor foi construída sob a ditadura; ou melhor, foi imposta à força, embora a essência desse desenho tenha sido elaborada por líderes docentes, e a pressão do movimento estudantil – ou o temor que ela despertava nos militares – tenha servido de contrapeso e evitado a aplicação de certas medidas pretendidas pelo Estado.
No eixo conservador, o regime militar combateu e censurou as ideias de esquerda e tudo mais que achasse perigoso e desviante – e, naturalmente, os defensores dessas ideias –; controlou e subjugou o movimento estudantil; criou as ASI (Assessorias de Segurança e Informação) para vigiar a comunidade universitária; censurou a pesquisa, assim como a publicação e circulação de livros; e tentou incutir valores tradicionais por meio de técnicas de propaganda, da criação de disciplinas dedicadas ao ensino de moral e civismo e de iniciativas como o Projeto Rondon.
Em sua faceta destrutiva, o Estado autoritário prendeu, demitiu ou aposentou professores considerados ideologicamente suspeitos – em geral acusados de comunistas –, assim como afastou líderes docentes acusados de cumplicidade com a "subversão estudantil". Além disso, torturou e matou alguns membros da comunidade acadêmica que considerava mais "perigosos". O anseio por uma "limpeza" ideológica levou ao bloqueio da livre circulação de ideias e de textos, e à instalação de mecanismos para vigiar a comunidade universitária. As ASI, juntamente com outros órgãos de informação, triaram contratações, concessões de bolsa e autorizações para estágios no exterior.
Quando assumiram o poder, após a vitória inesperadamente fácil do golpe, os militares e seus aliados civis encontraram situação conturbada nos meios universitários. No início dos anos 1960, o movimento estudantil havia se tornado aguerrido e bem estruturado, sob o comando de líderes da esquerda católica e de comunistas. No clima de radicalização anterior ao golpe, as universidades se tornaram centros importantes da mobilização esquerdista, com a realização de seminários, eventos culturais e políticos, manifestações as mais diversas; e os estudantes se tornaram forte grupo de pressão no cenário público. Para além do fato de as universidades reunirem inimigos do novo regime, "credenciando-se", portanto, como alvos privilegiados das primeiras operações de expurgo, elas ocupavam lugar estratégico na formação das elites intelectuais e políticas do país, e, secundariamente, dos dirigentes econômicos. Assim, eram indispensáveis ao projeto modernizador acalentado por setores da coalizão dominante, com duas funções básicas. Primeiro, continuar cumprindo, agora em escala ampliada, o papel de formar profissionais indispensáveis às atividades econômicas. Em segundo lugar vinha o potencial para desenvolver novas tecnologias, algo ainda incipiente na realidade brasileira de meados dos anos 1960, e que não era considerado prioritário por todos os envolvidos, pois a importação de tecnologia era regra nas grandes empresas.
Porém, o impulso modernizador do novo regime era contrabalançado por forças retrógradas que o apoiavam, amedrontadas com os riscos à manutenção da ordem e aos valores tradicionais. Esses setores, geralmente representados por religiosos, intelectuais conservadores e militares, não se contentavam tão somente com o expurgo da esquerda revolucionária e da corrupção. Eles desejavam aproveitar o momento para impor agenda conservadora mais ampla, que contemplasse a luta contra comportamentos morais desviantes, a imposição de censura e a adoção de medidas para fortalecer os valores caros à tradição, sobretudo pátria e religião.
As universidades representam espaço privilegiado para observar os entrechoques das diferentes forças que moveram o experimento autoritário brasileiro. Elas eram importantes lócus de modernização do país, bem como campo de batalha entre os valores conservadores e os ideais de esquerda e de vanguarda; eram instituições que o regime militar, simultaneamente, procurou modernizar e reprimir, reformar e censurar.
Sob o influxo da cultura política brasileira, os governos militares estabeleceram políticas ambíguas, conciliatórias, em que os paradoxos beiravam a contradição: demitir professores que depois eram convidados a voltar, para em seguida afastá-los novamente; invadir e ocupar universidades que ao mesmo tempo recebiam mais recursos; apreender livros subversivos, mas também permitir que fossem publicados e que circulassem. Como explicar o paradoxo de uma ditadura anticomunista que permitiu a contratação de professores marxistas e manteve comunistas em seus cargos públicos, enquanto outros eram barrados e demitidos? Como foi possível, no mesmo contexto, o marxismo ter ampliado sua influência e circulação nas universidades? (4)
Outros elementos tradicionais da política brasileira também se fizeram presentes nesse período: o Estado autoritário lançou mão de estratégias de cooptação, e vários agentes demonstraram flexibilidade em relação a normas e valores dominantes, com tendência a tangenciar os preceitos legais e confiar mais na autoridade pessoal, nos laços sociais e em arranjos informais. Essas práticas permitiram ao Estado contar com o talento de profissionais provenientes de campo ideológico adversário, mas também propiciaram o amortecimento da repressão, com base na mobilização de fidelidades pessoais e compromissos informais. Certamente que tais processos foram simultâneos às ações de repressão, afinal, cumpre lembrar que muita violência ocorreu nos campi, sobretudo nos momentos de invasão policial, que tiveram lugar em 1968 e, com menor intensidade, em 1977. Ainda assim, nas universidades, a repressão foi temperada por jogos de acomodação e conciliação, cujo entendimento é indispensável para que se explique de forma adequada o processo autoritário, no seu desenrolar e em sua conclusão peculiar.
No Brasil, a estratégia conciliatória tende a ser mais mobilizada quando os agentes em conflito pertencem às elites sociais. E é este precisamente o caso, pois nos meios universitários, em grande proporção, estavam pessoas originárias das classes médias e altas, que tinham possibilidade de mobilizar ligações sociais em seu benefício, não obstante houvesse muitos "pagãos" também, ou seja, pessoas sem laços sociais protetores. Esse jogo complexo e, às vezes, ambíguo, sugere uma análise mais sutil do impacto do autoritarismo nas universidades, capaz de iluminar processos que não se encaixam no tradicional par repressão/resistência. Houve também arranjo entre repressão/acomodação, repressão/negociação e repressão/cooptação.
No caso dos meios acadêmicos, esse aspecto foi mais marcante, pois muitos dos seus membros tinham laços pessoais ou familiares com membros do governo e mesmo das Forças Armadas. Assim, características peculiares da sociedade brasileira, altamente elitizada e com recursos educacionais e culturais concentrados nos estratos superiores, geraram situações em que as lideranças acadêmicas esquerdistas e os líderes do Estado militar pertenciam aos mesmos grupos sociais, o que implicava, muitas vezes, laços de parentesco, amizade ou de convivência escolar anterior.
Isso explica porque, em certas situações, quando as características do regime autorizavam ações repressivas duras, certos agentes estatais optaram por moderação, tolerância e/ou negociação. Gestões de natureza pessoal permitiram que vetos políticos à contratação de alguns professores fossem contornados; sugestões para aposentadoria compulsória fossem engavetadas; passaportes bloqueados fossem liberados; bolsas de pesquisa retidas fossem autorizadas; condenações judiciais se tornassem mais leves; e, também, alguns presos fossem libertados, e certas prisões, evitadas.
Claro, nem todos os servidores do regime estavam predispostos à moderação, e nem sempre ela funcionou bem, pois centenas de professores e intelectuais perderam cargos ou tiveram sua contratação barrada. Considerando os dois grandes expurgos, em 1964 e 1969, entre aposentadorias e exonerações, pode-se estimar que mais de 300 docentes foram afastados das universidades públicas. O número dos que tiveram sua contratação bloqueada por razões ideológicas é mais difícil de precisar, pela escassez de evidências. Por outro lado, a disposição das autoridades para agir com moderação era tanto maior quanto menor o impacto público das atividades promovidas no espaço universitário. Em outras palavras, se o radicalismo acadêmico não transpusesse os muros das faculdades, maiores as chances de ser tolerado e de não atrair medidas repressivas.
No entanto, apesar dessas ressalvas, nas universidades com frequência as vozes moderadas prevaleceram, e a repressão foi temperada com negociação e tentativas de acomodação, em certos casos com a anuência dos órgãos de repressão. Importa ressaltar que esses jogos de acomodação, que se situavam em espaço intermediário entre as opções de resistir ou aderir ao regime militar, implicavam compromissos de mão dupla. Os intelectuais visados pelas agências de repressão que conseguiam escapar de perseguições deveriam comportar-se com discrição, evitando ataques públicos contra a ditadura.
É fundamental levar em conta a existência de tais espaços de acomodação e negociação, tanto para entender a natureza do regime militar quanto porque eles tiveram impacto no processo de superação do autoritarismo. Os expurgos nas universidades teriam sido maiores não fosse a influência moderada em alguns círculos do poder, e graças às estratégias de acomodação que adotaram em certas circunstâncias. Tanto alguns membros do governo quanto dirigentes universitários trabalharam para evitar demissões e liberar contratações, contrariando a indicação de órgãos repressivos. Fizeram-no pelo interesse de contar com o talento de certos profissionais acadêmicos, o que a seus olhos justificava a tolerância política, ou para evitar perda de prestígio junto à comunidade universitária e à opinião pública. Daí ser comum encontrar reitores que tomavam medidas repressivas com uma mão e com a outra protegiam pessoas visadas.
Com isso, evitou-se o expurgo completo da esquerda acadêmica, e, apesar dos esforços da direita militante, que teve força para bloquear muitas contratações de "suspeitos", alguns professores com perfil esquerdista foram admitidos durante a ditadura. Essas situações foram mais frequentes antes do AI-5 (entre 1965 e 1968) e depois da distensão (de 1974 em diante), porém, ocorreram também durante os anos de repressão mais intensa. Tal não se deu apenas nas universidades, mas também em outros órgãos públicos, da administração direta e indireta, em que algumas pessoas visadas pela repressão foram protegidas por sua competência presumida ou por laços pessoais. Essas situações provocaram a ira da direita radical, principalmente de grupos encastelados no aparato de repressão, que, a partir de meados dos anos 1970, passaram a acusar a "infiltração comunista" no governo, elemento que se tornou um dos ingredientes na disputa pelo poder na sucessão do general Geisel.
Os jogos de acomodação analisados sumariamente aqui têm uma peculiaridade que cabe ressaltar: como em todo jogo, as coisas não funcionam se houver apenas um contendor. Explicitando a metáfora, as negociações visando a moderar a repressão sobre as elites intelectuais implicavam concessões mútuas, envolvendo os dois lados. Por isso, não deve causar estranheza que práticas semelhantes tenham marcado também a saída da ditadura, estimulando o pacto e o arranjo entre os círculos no poder e as forças de oposição. Encontra-se aí uma explicação para o caráter relativamente indolor (para os quadros do regime militar) da transição pós-autoritária no Brasil, marcada pela ausência de punições contra os agentes da violência estatal e pela acomodação das antigas elites políticas no novo quadro "democrático".
O processo de saída do regime militar e de construção da democracia foi marcado por acomodações e conciliações que permitiram reduzir os custos para os agentes da ditadura. Porém, vale a pena insistir, esse caminho foi possível porque mesmo nos momentos intensos da repressão o Estado autoritário mostrou-se transigente em certas situações. A acomodação beneficiou membros das elites sociais que, embora avessos aos valores oficiais, foram poupados da repressão por considerações pragmáticas ou pela mobilização de laços sociais.
A linha de análise desenvolvida aqui não implica desvalorizar as lutas e a resistência à ditadura nos meios acadêmicos. Desde o começo as universidades foram um dos espaços sociais mais hostis à ditadura, em que ocorreram muitas lutas e ações de resistência, desde as mais sutis até os protestos ostensivos como paralisações, ocupações de prédios, passeatas etc. No contexto da distensão política empreendida pela ditadura, as lideranças da comunidade acadêmica aproveitaram o clima menos repressivo para fortalecer ou criar entidades associativas, sobretudo discentes e docentes. Na segunda metade dos anos 1970, o movimento estudantil se reorganizou e se tonificou, também devido à reorientação política resultante da derrota da utopia guerrilheira, e os professores criaram uma rede de associações docentes. Tais entidades lutaram para ampliar o escopo da distensão/abertura e denunciaram as ações da ditadura, causando incômodo ao poder. Importante considerar que a própria disposição de setores da ditadura à acomodação devia-se à estratégia de evitar a radicalização de tais lutas. Entretanto, não devemos superestimar os efeitos da resistência, sobretudo, não podemos deixar na sombra que os processos de negociação e acomodação deram o tom da saída da ditadura, nas universidades e em outros espaços sociais e políticos.
Assim, a influência de traços marcantes da cultura política do país se fez presente também no regime militar, sobretudo a tendência à acomodação inter-elites. Tendo adotado políticas voltadas simultaneamente para a conservação e a modernização, e mostrado, em certos contextos, indecisão entre erradicar os inimigos ou acomodar-se com parte deles, e oscilado entre a ditadura e as instituições liberais, o Estado autoritário acabou por negociar sua saída do poder de maneira igualmente ambígua. Embora com protestos de setores da oposição, o arranjo se fez tendo como corolário o esquecimento de todos os crimes cometidos e a incorporação de antigos apoiadores do regime ao novo quadro político.
Considerando os países do cone sul, o Brasil é o único em que os agentes repressivos da ditadura continuam impunes, apesar das pressões em contrário. Tradicionalmente receptiva a acordos e acomodações, mais uma vez, a força da cultura política se faz valer. E as ações de alguns integrantes do regime militar que aceitaram arranjos para diminuir o impacto da repressão contribuíram para esse quadro, pois, ao reduzir a escala dos atingidos, eles aumentaram, no campo das antigas oposições, o número de lideranças dispostas a negociar e a se acomodar com seus antigos inimigos.
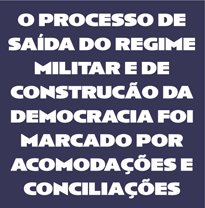
No que toca à modernização das instituições universitárias e de pesquisa, dificilmente se poderia negar que a ditadura trouxe impacto significativo, ao aumentar recursos e investimentos e ao legar uma infraestrutura que seria retomada anos depois. No entanto, a faceta modernizadora da ditadura possuía desequilíbrios agudos e deixou legado contraditório. No fim do ciclo militar, as universidades estavam em crise, às voltas com falta de recursos e salários corroídos pela inflação. O conhecimento produzido exercia limitado impacto sobre o sistema produtivo, e a instituição universitária era mais importante por seu papel na formação de técnicos, profissionais, burocratas e intelectuais ligados à academia. Ademais, o modelo implantado foi elitista e socialmente injusto, como era o tom geral das políticas modernizadoras e desenvolvimentistas da ditadura. Os investimentos nas universidades favoreceram os grupos sociais e as regiões mais ricas do país, consolidando – e ampliando – as tradicionais desigualdades sociais e regionais.
Em suma, o reconhecimento do caráter paradoxal do impacto da ditadura nas universidades é necessário do ponto de vista científico, e também importante desde uma ótica política, para compreensão adequada dos embates atuais e dos limites da nossa transição democrática, em que a chamada justiça de transição não alcançou realizar ações propriamente criminais.
Entretanto, reconhecer a existência dos jogos de acomodação e demais paradoxos da ditadura, e percebê-los como parte da cultura política brasileira, não significa aceitar uma perspectiva conformista. Tampouco devemos aceitar os discursos que procuram justificar o autoritarismo com o argumento de que ele foi modernizador. Como se isso compensasse a repressão e a censura, que implicaram verdadeira regressão política. Bem ao contrário, a expectativa é que o esforço analítico para compreender e explicar os processos complexos do autoritarismo sirva de estímulo para a sua superação.
Rodrigo Patto Sá Motta é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenador do grupo de pesquisa "História Política – Culturas Políticas na História" e pesquisador do CNPq e da Fapemig. Autor dos livros Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964); Jango e o golpe de 1964 na caricatura; As universidades e o regime militar.
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Salgado de Souza, M. I. Os empresários e a educação. O Ipes e a política educacional após 1964. Petrópolis, Vozes, 1981.
2. Cf. Freyre, G. Ordem e progresso. Rio de Janeiro, José Olympio, 1959; Buarque de Holanda, S. Raízes do Brasil. 26a ed. São Paulo, Companhia das Letras, 1995; DaMatta, R. A casa & a rua. 5a ed. Rio de Janeiro, Rocco, 1997; Rodrigues, J. H. Conciliação e reforma no Brasil: um desafio histórico-cultural. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1965; Schmitter, P. C. Interest conflict and political change in Brazil. Stanford, Stanford University Press, 1971.
3. Entre os estudos que analisam a reforma universitária da ditadura vale a pena citar: Celeste Filho, M.. A constituição da USP e a reforma universitária da década de 1960. São Paulo, Edunesp, 2013; Cunha, L. A. A universidade reformada: o golpe de 1964 e a modernização do ensino superior. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988; Nicolato, M. A. "A caminho da Lei 5.540/68 – a participação dos diferentes atores na definição da reforma universitária". Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Educação. Belo Horizonte, UFMG, 1986.
4. Devido ao limite de espaço esse tema está sendo tratando de maneira esquemática. Para uma análise mais cuidadosa recomenda-se consulta a Motta, R. P. S. As universidades e o regime militar. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
(*) Este artigo é baseado em Motta, R. P. S. As universidades e o regime militar. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.