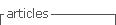Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
On-line version ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. vol.67 no.3 São Paulo July/Sept. 2015
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602015000300011
MUNDO
O ser-luz: multirrealismo em tempos de crise ambiental
Rodolfo Eduardo ScachettiI; Vanina Carrara SigristII
IDoutor em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Fez parte de sua pesquisa doutoral junto ao Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano (CeaQ) da Universidade Paris V. Atualmente é professor adjunto II da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), campus Baixada Santista
IIDoutora em teoria e história literária pela Unicamp e professora de ensino superior 1-A da Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista (Fatec-RL)
A luz possibilita a visão. E abre a possibilidade de múltiplas visões sobre si mesma. Explorada pelas artes, filosofia e ciências, minuciosamente estudada por pintores e físicos, escultores e astrônomos, eleita como representação de uma ideia, da clareza de um raciocínio, ou o elemento ausente de todo um período histórico condenado à escassez de conhecimento, considerada essencial à própria vida e à existência das coisas, dos objetos. Muitos enunciados, na contínua sucessão de paradigmas científicos e estéticos, defendem a luz como condição de possibilidade do mundo visível: outrora por sua natureza corpuscular e todo o espectro de cores obtido da refração da luz branca, ora por sua natureza de partícula e de onda eletromagnética e suas grandezas de frequência, amplitude e velocidade; ou pela supremacia dos seus 300 mil km/s para qualquer sistema de referência; ou, ainda, por sua nítida contraposição à sombra e os efeitos visuais que surgem desse confronto, na arquitetura e no cinema, por exemplo. Em princípio, em todos esses casos, a luz tornaria visível a forma.
Mas também, sob outra ótica, confunde-se com a energia tão fundamental à economia de nossa sociedade, dependente em grau elevado das novas tecnologias e que, há alguns anos no Brasil e no mundo, culminou em uma profunda crise - cenário determinante para que a ONU (Organização das Nações Unidas) e a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) declarassem 2015 como Ano Internacional da Luz (e, vale lembrar, das "tecnologias movidas a luz", ou "light-based technologies", de acordo com o site oficial dessas organizações) (1). Oportunidade valiosa de pensar o futuro das nações de modo global, tendo como horizonte a tão discutida sustentabilidade, por razões financeiras, sociais e ambientais. Estudar novos usos da luz, desenvolver produtos mais rentáveis em termos energéticos e menos danosos ao ambiente já são, há um tempo, os principais objetivos de muitos pesquisadores, cientes da iminente catástrofe ambiental. Trata-se de uma corrida contra o tempo, não só para que nosso planeta permaneça amistoso à vida tal como tem sido concebida, mas também para que, numa perspectiva mais radical, a existência do nosso planeta continue possível.
Trata-se, portanto, do nosso futuro em todos os sentidos. Tratase, como veremos, ao mesmo tempo, do sublime e do trágico tecnocientífico. Do micro ao macro. Das lâmpadas led que utilizamos em residências e escritórios à força cósmica que incide diretamente sobre nossos corpos. Sendo assim, relembrando que o conhecimento sobre o comportamento da luz tradicionalmente contribui para o conhecimento sobre a matéria, os corpos celestes e o funcionamento do universo, e que essa dimensão merece atenção nesta ocasião de celebração, iremos propor, a seguir, um trajeto de pensamentos e experimentos. Nesse trajeto, ao lado da luz que surge, de modo evidente, como a garantia da visão dos seres e das coisas, percorreremos outras dimensões da luminosidade que possam se somar a essa luz vista como condição do mundo visível, a essa luz que faz ver seres e coisas.
Sabemos da proeminência do pensamento de Platão sobre o tema das aparências e das essências. Proeminência crítica às primeiras. Em maior ou menor grau, todos aqueles que se preocuparam com o mundo visível (com a luz, poderíamos dizer, de modo intuitivo) tiveram de enfrentar o clássico problema dos dois mundos, da oposição platônica entre aparências e essências. Kant foi um desses filósofos. Nietzsche foi um desses filósofos. Mas também, mais recentemente, Souriau, Foucault e Deleuze.
Comecemos por Nietzsche em seus ecos mais contemporâneos. O filósofo Pierre Montebello (2) nos conta, através de suas pesquisas, que a filosofia nietzscheana busca justamente construir esse plano único da aparência através da abolição da distinção entre o sensível e o inteligível, dualismo que tem, como sabemos, algumas fortes decorrências, sendo uma das mais destacadas a desvalorização das artes - vistas negativamente como imitatio da realidade, como simulacro de segundo grau, cópia infiel e imperfeita das aparências, já cópias, por sua vez, das essências ou ideias, essas sim perfeitas e verdadeiras. Ora, podemos notar que, desde Platão, o que fundamentalmente está em jogo é o valor dos mundos, no caso, o valor dos dois mundos, das aparências e das essências. Esses mundos platônicos estruturaram e ainda estruturam o pensamento ocidental, seja pelas inúmeras críticas a que a divisão foi submetida, seja pela incrível penetração cotidiana que ainda existe desse dualismo. Afinal, quem não reconhece ecos da filosofia platônica na distância entre amores vividos e o amor ideal? Mundos, nesse sentido, seriam formas de existir, ou, em uma terminologia mais condizente com os autores com os quais ainda conversaremos, modos de existência. Se há hierarquia entre o ser ou o modo inteligível e o parecer ou o modo sensível, isso indica que há em Platão uma forma (ou ideia) privilegiada de existir - e esse modo de existência exigiria, em suma, que desconfiássemos das meras ilusões visuais.
A "solução" nietzscheana para o problema da separação em dois modos de existência vai na direção contrária, ou seja, de valorização da experiência estética, contrariando as consequências do ponto de partida platônico. Montebello, a esse propósito, recupera e discute a tese de Michel Haar que liga a filosofia de Nietzsche à "fusão do Uno e da aparência, 'aparência generalizada', reino do aparecer luminoso" (3). O que nos interessa é o modo como uma espécie de "semiótica luminosa" parece estar o tempo todo junto à questão do ser, da existência - indagação filosófica fundamental. Nessa leitura de Nietzsche por parte de Haar-Montebello (com pequenas nuanças entre ambos, é preciso dizer), seria na aparência que o ser se manifestaria. E, evidentemente, as artes acabam por trocar de posição: de enganosas cópias de segunda ordem condenáveis em Platão, ganham em Nietzsche um estatuto privilegiado e exigente, pois caberia ao domínio estético, seguindo Montebello (que potencializa Nietzsche com Deleuze), produzir algo como uma graça, em um sentido próximo ao religioso. Em suas palavras, "a graça que as coisas recebem na estética resulta da conversão do olhar que faz de um artista um Vidente (...) que vê as possibilidades de vida e as inventa ao mesmo tempo" (4).

Através da ligação de Nietzsche e Deleuze, começamos a compreender que o entendimento generalizado da luz como condição do mundo visível peca não por falha, mas por falta. Essa luz que a estética e a filosofia perscrutam não se confunde com o simples visível, não é apenas aquilo que torna a forma visível a um sujeito cognoscente; seria uma luz primeira, pura, anterior a toda subjetividade. Veremos adiante que essa luz primeira não revela primordialmente as formas, como se estivessem prontas, mas as instaura (se contaminarmos o agenciamento Nietzsche-Deleuze com uma terminologia de Souriau) (5), instaurando, dentre elas, a própria forma-luz, resultado de uma espécie de interrupção da luminosidade contínua.
Para Deleuze, a consciência é essa espécie de anteparo que intercepta o fluxo de luz, e não, como sustentava boa parte da tradição filosófica, "um facho luminoso que retirava as coisas de sua obscuridade nativa" (6). Baseando-se em Bergson, Deleuze reconstrói nosso entendimento sobre a luz afirmando que, assim como há identidade entre imagem e movimento, também há entre matéria e luz; isso significa, em outros termos, que o olho já está nas coisas, e não simplesmente à espreita. É essa maquinaria filosófica sobre a imagem-luz, especialmente cinematográfica, que Deleuze leva para pensar o problema do visível nos trabalhos do amigo Foucault, os quais, em seus diferentes propósitos de análise e com maior ou menor dedicação, tocam a temática. O visível, na obra de Foucault tal como vista por Deleuze (7), configura-se então não como o regime das formas e dos objetos que são trazidos à luz, mas como o regime da própria luz, que compõe com o regime do enunciável os dois maiores estratos formadores das diferentes épocas históricas. A história seria assim, nessa conjunção Foucault-Deleuze, uma captura de fluxos, de movimentos, de intensidades, mas também de luz, e ela sempre conviveria com potenciais não atualizados, não capturados, espaços e tempos transistóricos que se insinuariam em meio às linhas de forças mais visíveis, linhas já atualizadas. Para Foucault arqueólogo, interessava a dimensão do visível e a dimensão do enunciável, relativas de modo simplificado, respectivamente, às coisas e às palavras, combinandose de maneiras diferentes na formação do saber. A luz, portanto, não seria o elemento que mostraria as coisas, sendo esta apenas uma luz segunda, mas sim aquela que "abriria" as coisas, fazendo ver o que está dentro delas, trazendo à tona outras visibilidades. Em suma, trata-se aqui de uma luz primeira, luz-matéria, formas de luz.
Assim, se permanecermos unicamente no domínio das coisas, das formas como garantia da existência, outras visibilidades permanecerão invisíveis; mas se deixarmos que emerjam através da abertura de um regime não de coisas, mas de percepções, mobilizadas pelo ser-luz (ou "être-lumière", no original), elas poderão ganhar espaço dentre os modos de existência. Então, o regime de luz fundamental é esse regime de visibilidades (sempre dependente de uma instauração). Distanciando-se dos discursos científicos, Foucault propõe, aos olhos de Deleuze, o ser-luz como um elemento puro, isto é, o a priori que mostra os complexos multissensoriais que são as visibilidades. Seguindo essa concepção, cada formação histórica veria e faria ver o que as suas condições próprias de visibilidade permitissem. Mas, devemos acrescentar, parece cada vez mais valioso tentar buscar o que fica de fora.
Apenas para citar um exemplo bastante saliente na obra de Foucault, estudioso de algumas importantes formações históricas e suas respectivas instituições, como os presídios e os sanatórios, as fachadas e as plantas arquitetônicas revelariam os modos de ver predominantes naqueles contextos, ao invés de serem consideradas os objetos a serem vistos. Como diz Deleuze: "Se as arquiteturas, por exemplo, são visibilidades, lugares de visibilidade, é porque elas não são apenas figuras de pedra, isto é, agenciamentos de coisas e combinações de qualidades, mas primeiramente formas de luz que distribuem o claro e o escuro, o opaco e o transparente, o visto e o não visto" (8). Estamos aqui no cerne de um problema que interessa ao historiador tout court, mas também ao historiador do futuro, pois claramente passamos com Foucault-Deleuze do problema da luz reveladora de formas para as formas de luz como modos de existir ("seres de luz", conforme expressão frequente em Deleuze), reveladoras das escansões visuais em ação, e também, quem sabe, chaves daquelas por vir, por instaurar.
Deleuze, de certo modo, organiza os inúmeros enunciados de Foucault a respeito do regime do visível, que estariam pulverizados em diferentes livros e em meio às abundantes afirmações sobre o regime do enunciável. Afinal, é este regime que teria a primazia sobre o outro no pensamento de Foucault. Ainda assim, desde História da loucura na idade clássica (9), passando por O nascimento da clínica (10) e Raymond Roussel (11), com destaque também a Vigiar e punir (12), o autor nunca teria deixado de tratar das visibilidades. Assim o faz quando, no último livro citado, explica como seria seu regime em relação ao Panóptico concebido por Jeremy Bentham no século XVIII. Discutindo esse desenho anelar de penitenciária, em cujo centro estaria situada a torre de observação de todos os encarcerados, Foucault afirma que tal dispositivo se fundamenta no uso da luz plena, que permite ver incessantemente aqueles que nada veem. Os detentos teriam a consciência permanente da visibilidade a que estariam expostos para que o poder exercido sobre eles estivesse assegurado, porém estariam, ao mesmo tempo, imersos numa condição de invisibilidade, tanto em relação ao conjunto dos prisioneiros, porque não haveria qualquer comunicação visual entre as celas, quanto em relação ao vigia, que também não seria visto por ninguém. Além disso, Foucault ainda destaca que o vigia, por sua vez, poderia observar as silhuetas dos encarcerados apenas à contraluz, tendo em vista o modo como todo esse dispositivo de vigilância trabalharia com a luminosidade.
Essa análise ajuda a entender que o que está em jogo na obra desse autor realmente não são os lugares em si e a luz que incide sobre eles; mas são as camadas subterrâneas (arqueológicas, na terminologia daquele momento) da arquitetura aparente, que condicionam os modos de ver e ser visto, e a existência pura de luz, sem a qual não é possível ver, através de dispositivos, o que está sempre em vias de se tornar aparente, sem ainda sê-lo plenamente. Loucos e delinquentes revelam, antes de tudo, certo regime de luz que percorre dados estratos históricos e seus modos de vê-los. Também nas análises de Foucault de certas pinturas, como as de Velásquez (13) e Manet (14), o que ganha destaque é a vertigem que faz oscilar ao infinito, em um processo de desestabilização e constante mistura, as posições de sujeito e objeto da observação; similarmente ao diagrama Panóptico, a pintura instaura dispositivos de ver e ocultar, que frequentemente revelam períodos históricos e, simultaneamente, abrem para movimentos, típicos daquela imagem já citada do artista-vidente, transistóricos (15).
Que regime de luz está primordialmente abrindo visibilidades é uma questão que pode ser absolutamente (e corriqueiramente, até certo ponto) de análise estética, mas que em Foucault também adquire significativa importância histórico-filosófica. Afinal, em sua bela análise do quadro Olympia (Manet, 1863), o que Foucault (16) indica é uma interessantíssima coincidência entre a posição do espectador do quadro e da fonte emissora de luz, como se do olhar do espectador emanasse a luz interna ao quadro, que percorreria a figura da cortesã retratada. Foi esse recurso de implicação do espectador que, em sua leitura, teria sido responsável pelo escândalo que se seguiu, em pleno século XIX, e não a nudez em si, tão frequente na pintura clássica, uma vez que, seguindo Souriau, aquele modo de existir no plano estético estava sendo inventado, uma nova visibilidade estava sendo recebida ou, em outros termos, uma realidade estava sendo instaurada, realidade que denunciava a presença do espectador do quadro diante de uma prostituta retratada, antes majoritariamente obliterado pelos dispositivos clássicos da pintura. Não seria mais possível ser apenas voyeur diante de Manet.

Assim, com a dimensão estética do pensamento de Foucault, chegamos ao tema do sujeito e do objeto, caro às humanidades, pois de sua demarcação parecia depender toda a cientificidade. A era moderna parece ter sido a da emergência dessa forma dual de existência: ou se é sujeito, ou se é objeto. E, através das artes, podemos ver isso nascer e, segundo Foucault, também padecer rapidamente. Trata-se aqui da famosa figura do homem para o saber, cuja face se apaga como a de um desenho na areia diante da maré (17). E, como é próprio dos movimentos transistóricos, temos voltado no mundo contemporâneo a acolher com mais hospitalidade seres mitológicos, anteriores às fronteiras que separaram seres e coisas, humanos e não-humanos, e tentaram bloquear as passagens entre formas diferentes de existir. Bruno Latour (18), tratando de Souriau, pergunta justamente se a filosofia pode superar esse pensamento dual, contando não somente até dois ou três (sujeito, objeto e superação do sujeito e do objeto). E tudo isso nos coloca questões sobre o que podemos esperar do futuro, no que tange às nossas relações entre o visível e o invisível, os nossos modos de ver e ser vistos, as nossas subjetividades e os nossos (imprevisíveis?) destinos. Que futuro (angustiante e potente, trágico e sublime) de visibilidades, de modos de existir, temos diante de nós? Mas também, diante da crise ambiental, como pensar a questão do fim do mundo, do possível fim de toda existência?
Melancolia, dirigido por Lars Von Trier (19), alegoriza não exatamente o fim do mundo, como tantos filmes apocalípticos dos últimos anos, cujos enredos muito ou pouco verossímeis, seguem gêneros já cristalizados na história do cinema, insistindo em fazer com que vejamos nossa própria extinção, mas sim o fim de um mundo. Melancolia está ancorado no fim do planeta Terra, o fim de todo o mundo que criamos, o "nosso" universo, (ainda) antropocêntrico. Ao invés de catástrofes naturais, como inundações, superaquecimento ou surgimento de uma nova era glacial, disseminação de pestes, ataque de seres alienígenas ou rebelião massiva de robôs e androides, ao invés de milhares de pessoas desesperadas em diferentes metrópoles ao redor do globo, gritando e suplicando, monumentos históricos desabando, crianças sendo soterradas, esfomeados saqueando supermercados, heróis lutando para sobreviver contra as ameaças, Von Trier nos mostra um fim quase silencioso. Fim-luz. Um drama intenso, quase sem esperança, sem espaçonaves e sem imagens espetaculares. Um núcleo narrativo composto por poucos personagens e um único cenário - uma propriedade da qual não se pode sair. Os últimos segundos da narrativa mostram, através de uma explosão de luz na tela, o que quase nenhuma outra ousa mostrar: ocorre a colisão entre a Terra e o planeta Melancolia e tudo acaba. Ou será que (re)começa, nessa espécie de religação ao cosmo e ao caos, superação da separação entre o sujeito e o mundo? Um fim que leva um belo nome, "dança da morte", isto é, o traçado um tanto voluptuoso da trajetória do Melancolia, extremamente luminoso e sedutor. Essa sua dança, temida pelos cientistas, calculistas e racionalistas modernos representados no filme, provoca o fim de um mundo, de um modo de existência baseado no dualismo indivíduo-coisa, ou sujeito-objeto. Por isso, é a personagem Justine, que não se ajusta às regras burguesas, que entra em ressonância com o Melancolia. Ela pertence, nesse sentido, àquela categoria dos loucos, ou videntes. Ela já sabia quantos grãos de feijão havia no pote exposto no hall de entrada da mansão onde aconteceria seu casamento, e só revela a verdade à irmã muito tempo depois. Nenhum outro convidado da festa tinha esse poder, essa intuição, todos eles, a seu modo, vestindo com maior ou menor conformismo as máscaras hipócritas do mundo burguês. Justine não servia para aquilo, na medida em que parecia entender a solidão humana diante da inevitável destruição do nosso planeta. Não à toa sua sensibilidade para com os sinais emitidos pelos cavalos da família, presos na estrebaria da mesma mansão, além da incrível sequência em que suas mãos estão repletas de luz, de eletricidade, mediando uma relação que iria começar.
Justine só consegue se desvencilhar do labirinto que se torna essa propriedade da irmã e do cunhado onde se passa a trama entrando em conexão com Melancolia. E isso se instaura quando ela entrega seu corpo nu à luminosidade azulada do planeta, no meio da noite, deitando-se próximo a um riacho, e esboçando um sorriso. Sorriso extra-humano, extático. É assim que percebemos um outro regime de luz se instaurando, um outro modo de existência, misto de êxtase e temor, erotismo e tristeza. É um regime de luz não mais estritamente humano no sentido dos modernos. É um regime de luz, por assim dizer, "antropocósmico", de um prazer frio, gelado, mas sem cinismo nem formalidade como seria a noite de núpcias de Justine com Michael, que, de todo modo, sequer acontece. É para Melancolia que Justine se entrega, em posição semelhante à das múltiplas Vênus na história da pintura ocidental. Mas no filme a luz é outra, ela não liga sujeito e objeto da observação, e sim sugere uma dissolução, uma mistura entre corpos de escalas muito diferentes.
O mesmo corpo que padece os efeitos da aproximação progressiva do Melancolia, a tal ponto debilitado que já se mostra incapaz de mobilidade, de apetite e de lucidez, é o corpo que ganha visibilidade pela luz-planeta, é a nudez que faz com que vejamos de novo Olympia, com que vejamos de novo uma Vênus. Novo escândalo? Claro. E não é só cinema. Von Trier cria uma pintura e dialoga com a pintura (como em outras cenas marcantes em que a imagem é tão desacelerada que parece um quadro). A figura feminina continua em destaque o filme todo. Tem-se a criação de dois blocos temporais que segmentam as mais de duas horas de filme e que ganham por título os nomes de duas protagonistas profundamente sensíveis e complexas: Justine e Claire, sua irmã. Claire é a força contrária, de resistência, que tenta a todo custo manter Justine atada ao mundo terrestre. Irmã protetora, esposa companheira, mãe zelosa. É a energia que muito se enfraquece e que acaba se rendendo, ao entrar na cabana mágica, construída com estacas de madeira por seu filho e por Justine, na cena final.
O fim é aguardado dentro dessa cabana, com os três personagens sentados juntos, em círculo, de mãos dadas. Uma espécie de saída mítica, em clara alusão a populações tradicionais, cujo modo de existir foi descrito pelo antropólogo Viveiros de Castro (20) como perspectivismo. Inclusive, sua leitura do filme (21) caminha nessa direção, mas enfatiza que o fim do filme é sim o fim do mundo. Só que vemos esse fim, trágico e, ao mesmo tempo, sublime, de aceitação do inevitável, também como abertura contida nos sutis sorrisos extra-humanos de Justine, um fim-luz que parece fim e começo. Reconexão.
Tal desfecho implacável, que desorganiza o ser como o entendemos através da prerrogativa da unidade, seja na ideia, seja na substância, certamente não contenta as tecnociências, contemporâneas ao filme. Sua visão do ser-luz frente à catástrofe ambiental é outra, apesar de algumas similitudes. Sabemos que o que se busca agora, em uma reedição invertida do projeto cibernético original de adaptação do corpo a outros "mundos", é a extinção das limitações da vida orgânica. Já que os limites do planeta se colocam, por que não explorar as vias seja da fuga do planeta, seja do upload da mente humana em suportes computacionais, recriando o entendimento do que é o ser vivo? Ou ainda, ambas as saídas? Recuperamos essas formas de busca por uma vida transumana por uma razão simples: como afirma Paula Sibilia (22), esse neognosticismo novamente associa ser e luz, mas aqui não mais através da ligação luz-espírito, mas sim através da própria eletricidade. Uma existência digital não é outra coisa senão se entregar às "cadeias de zeros e uns feitos de luz" (22). Parece que a informação está hoje na mesma posição que a luz para os iluministas, e sua base é elétrica.
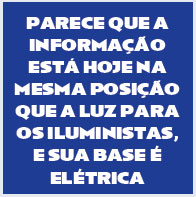
Interessante notar como matéria e energia deixaram de se opor nesse mundo de seres digitais, em que o encontro de luz e matéria nos remete àquilo que Deleuze já dizia acerca das formas de luz. Trata-se de um mundo pós-representacional e, nesse ponto, a despeito das tendências elitistas ou até mesmo neo-eugênicas das tecnociências de ponta, devemos reconhecer que existe potencial nas tecnologias para a produção de outros mundos, de outros seres de luz.
Latour é um desses autores atentos à problemática dos diferentes modos de existência. Em um de seus trabalhos, comenta a afirmação de Souriau de que as formas têm a chave da realidade, afirmando, no entanto, que elas "não abrem nenhuma porta, já que a realidade deve ser instaurada" (23). Já tratamos da instauração antes. O maior cuidado que devemos ter é o de não associar essa instauração à mera construção banhada pelas subjetividades e intencionalidades que sempre florescem a cada "nova" estação do pensar. A máquina de pensamento Souriau é por demais complexa para aceitar isso, e sua configuração Souriau-Latour é uma maneira de evitar os trajetos fáceis. Mesmo porque a instauração pode fracassar. Há, para Souriau, ao lado dos modos de existir que possuem amplos direitos de cidadania, como a existência das coisas e dos fenômenos, outros que clamam por maior dignidade ontológica, e que dependem de nosso empenho e suporte para recebê-los. Isso não significa que sejamos os responsáveis por sua existência; mais provavelmente, poderíamos falar de uma responsabilidade diante de sua existência. Instaurar é inventar, criar, mas invenção aqui é receber, participar da percepção e do acolhimento de uma forma em formação, uma forma que não subjuga a matéria.
Latour insiste nesse ponto: para Souriau, nossa existência é uma espécie de esforço, de esboço. O próprio Souriau utiliza a expressão "demi-jour", ou meia-luz, para tratar disso. Não é de estranhar que sua filosofia também passe ao largo de qualquer preocupação com os polos do sujeito e do objeto, tal como já discutimos. "Obra" é, de fato, uma palavra que aparece nessa filosofia, mas a obra a fazer é, em larga medida, a do próprio ser, não exatamente a do ser enquanto ser, locus da identidade, mas, na expressão de Latour, do "ser enquanto outro" (24), enquanto toda a experiência, e não menos do que a experiência. Esse é o ponto principal do multirrealismo nesse agenciamento Souriau-Latour: "de quantos modos diferentes podemos dizer que o ser existe?" (25). Vimos com Melancolia a violenta crise de um regime de visibilidades que acreditávamos ser o único real, convivendo, quem sabe, com a abertura de um outro ser-luz, um outro modo de existência ainda difícil de entrever, mas que reforça a tese de um multirrealismo real.
Referências Bibliográficas
1. Site sobre o Ano Internacional da Luz. http://www.light2015.org/Home.html
2. Montebello, P. "Du platonisme retourné à l'abolition du platonisme". S/d. Disponível em: https://www.academia.edu/1347733/Nietzsche_Du_platonisme_retourn%C3%A9_%C3%A0_labolition_du_platonisme. Acesso em: 15 mar 2015.
3. Ibid., p.9.
4. Id., "Grâce et lumière chez Deleuze". S/d, p.13. Disponível em: https://www.academia.edu/1401290/Gr%C3%A2ce_et_lumi%C3%A8re_chez_Deleuze (acesso em: 22/01/2015).
5. Souriau, E. Les différents modes d'existence. Préface d'Isabelle Stengers et Bruno Latour. Paris: PUF, 2009.
6. Deleuze, G. Cinéma I: L'image-mouvement. Paris: Les Éditions de Minuit, 1983, p.89.
7. Id., Foucault. Paris: Les Éditions de Minuit, 2004.
8. Ibid., p.64.
9. Foucault, M. Histoire de la folie à l'âge classique. Folie et déraison. Paris: Gallimard, 1972.
10. Id., Naissance de la clinique. Paris: PUF, 1963.
11. Id., Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963.
12. Id., Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975.
13. Velásquez, D. Las meninas. Pintura, óleo sobre tela. 310 x 276 cm. Madri: Museo Nacional Del Prado, 1656.
14. Manet, C. Olympia. Pintura, óleo sobre tela. 130.5 x 190 cm. Paris: Musée d'Orsay, 1863.
15. Scachetti, R. E. "O espelho virtual: prolegômenos de uma arqueologia do futuro do humano". Tese de doutorado. Campinas, SP, 2011.
16. Foucault, M. "A pintura de Manet". Trad. Rodolfo Eduardo Scachetti. In: Visualidades (Goiás), Goiás, v. 9, n.21, p. 259-284, 2011.
17. Id., Les mots et les choses: une archeologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.
18. Latour, B. "Sur un livre d'Etienne Souriau: les différents modes d'existence". 2006, p.4. Disponível em: http://www.bruno-latour.fr/node/207. Acesso em: 10 fev 2015.
19. Melancolia. Direção e roteiro: Lars Von Trier. Dinamarca; Suécia, 2011 (130 min.) Título Original: Melancholia.
20. Viveiros de Castro, E. "Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio". Mana (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 2, n.2, p. 115-144, 1996.
21. Danowski, D.; Viveiros de Castro, E. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2014, v. 1.
22. Sibilia, P. O homem pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002, p.83.
23. Latour, B.; Stengers, I. "Le sphinx de l'oeuvre". 2009, p.19. Disponível em: http://www.bruno-latour.fr/node/142. Acesso em: 10 fev 2015.
24. Id., "Sur un livre d'Etienne Souriau", op. cit., p.11.
25. Ibid., p.6.