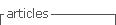Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
On-line version ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. vol.71 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2019
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000400009
ARTIGOS
MULTILINGUISMO
Indígenas galeg@s e indígenas ameríndi@s: atitudes perante a substituição em contextos multilíngues*
Teresa Moure Pereiro
Professora titular de linguística geral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e membro da Academia Galega da Língua Portuguesa
1 A hipótese que se apresenta nestas linhas identifica a Galiza como um povo indígena no conjunto da lusofonia, o qual pode parecer um atrevimento, mas, segundo tentaremos demostrar, é uma inovação conceitual necessária para adotarmos medidas de recuperação da língua num contexto ameaçado pela substituição.
A maioria d@s galeg@s que não tenham estudos específicos de linguística partilham a ideia geral de que na Galiza se fala em galego (embora fosse mais exato dizer que também se fala galego porque o contexto de concorrência com o espanhol tem colocado a nossa língua em situação de iminente perigo) [2]. A partir daí, alguns pensarão que o galego é uma língua derivada do latim, com o mesmo status de idioma que outras, como o espanhol, e outros que é, simplesmente, um modo de falar: "o que nós falamos" [3]. Os movimentos políticos e sociais surgidos à volta da dignificação da língua têm combatido com relativo sucesso a ideia de o galego ser um dialeto apenas apropriado em contextos informais, mas a população, após 40 anos de governo democrático, continua a queixar-se da artificialidade do standard (embora todos os standards tenham de ser artificiais) para logo a seguir lamentar que falam "mal", seguindo os modos domésticos ou locais (exatamente como é feito em toda a parte) ou, de maneira um bocado contraditória com a premissa anterior, que é perfeitamente natural incorporar formas alheias num processo de hibridização semelhante ao dos crioulos. Num contexto político adverso à diversidade e à integração cultural, esquece-se voluntariamente a origem galego-portuguesa documentada na história, apesar de a filiação do galego como uma variedade do português ter conhecidos defensores entre os grandes vultos literários, intelectuais e eruditos. Uma declaração do género de "eu estou a falar galego, não a falar em português" é, sem dúvida, um preconceito linguístico guiado pela noção de Estado, mas vamos tentar analisar o seu impacto duma maneira antropológica visto que poderia ter a ver com um certo orgulho pelo nosso sotaque, pelas nossas peculiaridades, e até conter um ar de chauvinismo derivado das políticas linguísticas estabelecidas. Na linha habitualmente promovida pelas instituições, a tribo galega pode falar ou não galego, mas não pode admitir que o galego seja português. Este é o primeiro ponto: identitário. Tem a ver com sermos uma tribo.
2 As e os galegos aprendem no ensino secundário que o latim se tornou em galego na Idade Média. Aprendem igualmente que na altura, a nossa língua estava na moda e muitos poetas, mesmo estrangeiros, escreviam naquela variedade que vamos denominar galego-portuguesa. Os mapas são complicados porque ainda não havia Estados. Porém, num momento determinado, os territórios ao sul do Minho foram com outros mais afastados de nós e constituíram Portugal, enquanto os territórios ao norte do Minho caíam sob o domínio da coroa de Castela. Como consequência da perda de poder político, na Galiza a língua ficou reduzida a âmbitos quotidianos e associada ao rústico, ao tradicional e frequentemente pouco cultivada (durante os chamados de "séculos escuros") ou declaradamente proibida (franquismo). Ao sul do Minho, no entanto, a mesma língua tornou-se em língua de nação, com presença na corte e no mercado, na ciência e nos cafés, no público e no privado. A tribo, portanto, fica fora da estrutura do Estado, isolada da história e do futuro.
Usarei dois exemplos que ilustram, a meu ver, as caraterísticas linguísticas dessa variedade tribal, condenada ao desaparecimento:
a) Embora o galego tenha desenvolvido a partir do século XIX uma rica literatura, @s escritor@s [1] continuam a ter problemas para desenvolver as suas criações. Imaginemos um romance onde a protagonista é uma mulher galega na casa dos 70 anos e juíza de profissão, um caso documentado na literatura galega dos últimos anos [4]. O/a autor/a teria sérios problemas para caraterizar a fala dessa personagem, a maneira em que se expressaria informalmente, os provérbios que usaria. É difícil, talvez, de perceber as dificuldades criativas que se enfrentam num tal caso quando a globalização dita que habitamos um planeta uniforme. Apenas nós, indígenas, podemos entender o problema: é absolutamente inverosímil na sociedade galega atual que uma mulher de procedência burguesa e dessa idade falasse com os filhos em galego. Isso é que significa não termos completamente (não ainda, não apesar de tantos esforços) uma língua de nação. Temos como língua culta uma variedade de português. O que não temos é uma língua versátil, uma língua com gírias profissionais, com variações urbano/rural, com registos sociais; em particular, com registo juvenil.
b) Vamos, desta maneira, para o segundo exemplo. Sempre pergunto nas aulas como se diz em galego uma frase da gíria da noite que @s jovens usam em espanhol "Esse tío me está entrando". Habitualmente respondem com um "Esse tío está-me entrando". Eis o problema da hibridação. Porque que entrar em espanhol tenha a aceção de "achegamento com intenção sexual" não significa que noutras línguas tenha que suceder o mesmo. As e os galegos não traduziriam para o inglês esse significado com o termo enter. De maneira semelhante, em espanhol diz-se igual llueve com sentido dubitativo. Isso não significa que em galego devamos dizer igual chove, renunciando a formas patrimoniais do estilo de se calhar ou da, mais habitual na Galiza, se quadra. Os galegos não começariam uma frase dubitativa em inglês com equal, mas com perhaps ou com maybe. A conclusão que se extrai deste exemplo é que, no contexto de concorrência com o espanhol, devem ser estimuladas as políticas linguísticas que permitam aos falantes da tribo isolada por uma barreira de Estado tomarem contacto com uma forma versátil e fecunda da sua língua; com uma língua viva em todos os seus registos. Doutro modo, acabam por conhecer com maior aproveitamento o inglês adquirido como segunda língua que a sua própria língua nativa.
Nas políticas implementadas durante estes 40 anos, considera-se que a população galega, se estiver dentro do seu território, permanece dentro da tribo. Como se a língua, a sua qualidade, já não contasse. Nada.
Porém, vista a proximidade genética e histórica existente entre os romances da península ibérica, um galego de qualidade inserto no conjunto dos países de fala portuguesa, é imprescindível para a subsistência. Perdermos qualidade significa passarmos a falar esse espanhol que envolve a vida diária (no ensino, na comunicação social e no relacionamento com o governo central).
Ora, a variedade tornada em língua de Estado ao sul do Minho, o português, viu-se implicada em processos de colonização na América, na África, na Ásia. Eis que a unidade das etiquetas parcialmente quebra. Qualquer observador internacional pode perceber que entre as falas portuguesas e brasileiras existem as tensões próprias das antigas metrópole e colónia. No entanto, quando uma pessoa galega e uma brasileira se encontram, esta última fica surpreendida: pode perceber perfeitamente o que diz alguém que tem carta de apresentação como cidadã espanhola; mesmo percebe melhor uma galega do que uma lisboeta. Essa cumplicidade - tão interessante para a colaboração em termos culturais, económicos, políticos - ainda pode ser alimentada pela consciência de o Brasil e a Galiza sermos periferia e, sobretudo, pelo facto de a Galiza nunca ter colonizado o Brasil. Estamos a bater com os conceitos de centro e periferia, decisivos na hora de uma língua se manter ou morrer.
A colonização leva-nos para a hipótese inicial. Mesmo nos âmbitos académicos, termos como indígena ou tribo são usados com uma absoluta falta de rigor que permite qualificar o russo como uma língua e o potawátomi como o dialeto duma tribo indígena. O etnocentrismo habitual nos centros de difusão do saber afeta a nossa perceção crítica da realidade. Embora muitas publicações de referência usem esse estilo de terminologia, para alguém que mora na Galiza é evidente que essas etiquetas são armas carregadas de ideologia, que assinalam periferias do poder. Como nós. Evidentemente, ser periferia é ocupar as bermas, mas daí, precisamente, emana uma fonte de contrapoder.
Na tradição colonizadora europeia o termo tribo foi usado pela antropologia no sentido pejorativo de "agrupamento humano com uma cultura rudimentar". A falta de tecnologia de muitas tribos tornava num elemento fulcral para estas serem consideradas organizações primitivas, povos subdesenvolvidos que podiam ser saqueados ou tutelados. Um olhar crítico convida a revisar, no contexto atual de morte de línguas no planeta, os conceitos de tribo e de indígena. A hipótese é se na Galiza somos um povo indígena e que contributo poderíamos chegar, por essa condição, ao conjunto da lusofonia.
3 Na história da linguística aparece bem documentado o capítulo da colonização. Nos barcos que partiam de Castela ou de Portugal para "fazer as Índias" viajavam também missionários, especialmente jesuítas, que aprendiam rapidamente as línguas aborígenes para assim traduzirem a Bíblia e completar a tarefa imperialista. Pretendiam inscrever a cosmovisão europeia nas mentes das populações subjugadas. Foi aí que começou a tradição de descrever as línguas indígenas como menores.
Uns anos atrás, um grupo de investigação da Universidade de Santiago de Compostela sob a minha direção [5] contrastou os dados dos grandes catálogos e atlas de línguas do mundo para desvendar os mecanismos ideológicos que estavam a se infiltrar nos procedimentos científicos e a deturpar os resultados. Esquematizarei a seguir sucintamente o tratamento que concedem às línguas indígenas.
a) Não temos estimações fiáveis do número de falantes: os atlas não coincidem nem de maneira aproximada. Com frequência mencionam como base censos antigos sem dar explicação das causas de não acudirem para cifras mais recentes: por acaso os governos dos Estados não responderiam a um inquérito universitário? Provavelmente não, mas isto também deveria ser denunciado. A usarmos a hipótese do galego como povo indígena, podemos perguntar se todos os galegos devem aparecer no cômputo de falantes de galego ou se os galegos hão de ser contados duas vezes - como falantes de galego e como falantes de espanhol. A dia de hoje as estimações dos atlas parecem, no mínimo, pouco rigorosas.
b) As línguas indígenas têm nomes diversos e isso gera confusão. Quando falamos duma língua como o danês, pequena em número de falantes, mas protegida por um Estado, assumimos a existência de variação interna: todos os daneses que puderem existir, variantes geográficas, históricas ou sociais, remitem para a entidade abstrata denominada de danês. Porém, a linguística transmite uma dupla mensagem quando faz uma declaração do estilo de "a língua toba, também conhecida como tob, qom, namqom, qoml'ek, chaco sul ou toba qom, pertence ao grupo guaicuru". Não sabemos se estas diversas denominações correspondem com grupos étnicos, com dialetos ou com as diferentes formas de reconhecer esse povo por parte dos seus vizinhos. Mas ficamos com a sensação de o toba não ser uma língua ao mesmo nível que o danês.
c) Observa-se no material publicado uma excessiva tendência ao ritual folk. Quando declararem, relativamente a uma comunidade, que é pequena e constituída por pastores nómades ou agricultores, um dado aparentemente objetivo, estão a contribuir para que a sua língua seja interpretada como tribal, no sentido, inadequado, de "própria duma sociedade fora de sítio no século XXI". Tribo é, de maneira sibilina, uma etiqueta depreciativa porque é reservada para os nivaclé, os tsakhur ou os nomatsiguenga, não para falantes de inglês, árabe ou catalão.
d) A história das tribos apresenta-se como conflituosa: ocupações do território por parte doutros povos, exílios forçados, migrações por perda do habitat são frequentes. Obviamente não se reconstrue da mesma maneira o inglês (ocupado pelos normandos em parte da sua história), ou o árabe na península ibérica.
e) A história interna da língua no caso das tribos apenas é conhecida. Enquanto línguas como o italiano ou o alemão, relativamente recentes na sua estandardização, não são nunca descritas como afetadas de dialetalização, para as pequenas línguas do mundo incide-se nas dificuldades de os falantes se compreenderem entre si, na ausência de estândares ou de formas escritas.
f) Falta de apoio técnico. As línguas em perigo não são descritas como depositárias dum saber interessante. Os dados linguísticos acumulam-se sem ordem e os investigadores aproveitam para lá colocar qualquer informação ao dispor. Número de fonemas, formação do feminino ou peculiaridades do sistema verbal aparecem por junto, como marca de erudição: a língua existe, parecem dizer. Pouco mais. Quando os dados linguísticos não primarem sobre apreciações culturais genéricas (frequentemente depreciativas como animistas ou xamanistas), o respeito para o outro implícito no estudo linguístico desaparece.
g) Falta de referentes: Não se fala de que Kofi Annan, que chegou a ser secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nasceu na Ghana e falou fante antes que inglês. Não se fala de que Philip Emeagwali, cientista da computação, nasceu na Nigéria e foi criado em diferentes línguas africanas, como Christopher Chetsanga, doutor em bioquímica e biologia molecular e prestigioso cientista, nascido em Zimbabwe. Não se fala da biotecnóloga Kiran Mazumdar-Shaw, de língua materna gujarati. Quando se vincula a língua a agricultores e recolectoras e não a personalidades da política, cientistas, artistas está-se a minguar o seu prestígio. Neste sentido, a escritora ugandesa Doreen Baingana publicava em 2009 [6] umas declarações bem ricas sobre convicções, histórias de família, vontades e limites:
"Para quase todos os africanos, nalgum lugar na linha familiar, existe um momento de encontro com um poder e uma cultura colonial que determina a linha das gerações futuras. [...] A mãe fala-nos em runyankore, a língua do pai, que é muito semelhante ao rukiga, a sua língua materna. Nós respondemos em inglês. A geração dos meus pais, que fora à escola nos dias coloniais de 40 e 50, foi ensinada por brancos. O inglês da minha mãe é melhor do que o de muitas pessoas da minha geração, em parte porque as nossas escolas públicas foram piorando com a passagem dos anos. Acho que os meus pais estavam orgulhosos de que nós falássemos inglês tão novos porque eles tiveram de o aprender sendo adultos. Nunca pensaram que tinham de nos ensinar runyankore ou rukiga. Chegaram lá naturalmente e assim fariam. Nós não. Fomos à escola primária em Entebbe, onde era proibida qualquer língua que não fosse o inglês. Nós próprios levamos a política para a casa. A brutalidade e a guerra económica tiveram uma consequência ainda mais nociva: colocaram a cultura em coma. Como resultado, não havia muita cultura nova a que pudéssemos abraçar-nos. O suaíli tornou-se numa língua de tortura e viu-se relegado para o exército. Havia livros acessíveis, ainda que velhos e escassos. O meu coração adorava os livros e o inglês deu-me uma fina apreciação de nuances e poesia. Não é acidental que seja escritora. O inglês funcionou comigo. Porém que é o que dei em troca nessa luta? Não se trata apenas da língua, mas de todos os aspetos da cultura que recebemos e escolhemos abraçar e passar para outros: que histórias contamos às crianças, que canções lhes ensinamos a cantar, que comida comemos e como a cozinhamos, que rituais internalizamos ou não, o modo em que pensamos. Deixaremos tudo isto ao acaso ou tomaremos decisões calculadas? Não dei ao meu filho um nome em inglês e não o batizarei, embora isso apavore os meus vizinhos. Falo a Kamara num runyankore rudimentar e a minha mãe e as minhas irmãs gozam comigo. Agora vivemos no Quénia, de maneira que ele fala uma mistura de suaíli, luhya e inglês […] Embora eu quisesse aprender o que a minha mãe sabe e o meu pai soube, para o passar a Kamara, ia isso ajudá-lo na África que estamos a criar? "
Todos os problemas aludidos por Doreen Baingana são tristemente conhecidos na Galiza. Mas talvez não seja a história familiar, posta em foco no texto, o mais emotivo a meu ver. O que comove sem dúvida é a frase "falo a Kamara num runyankore rudimentar", eloquente da convicção da escritora e das suas dificuldades para se expressar nessa língua. Porque este fenômeno também existe entre nós: o de pessoas que querem transmitir um legado à geração seguinte, mesmo se para elas seria mais cómodo expressar-se na língua dominante. A linguística galega elaborou para elas o termo neofalante, carregado de ódio, porque assinala para alguém não completamente confiável nos seus usos. Porém, uma neofalante de runyankore como Doreen Baingana está a devolver à língua a sua dignidade. Todas as políticas linguísticas que idealizemos numa época de tendência para a uniformização como a presente deveriam estar destinadas a que muitos indivíduos se comprometessem com línguas menorizadas, mesmo com as dificuldades expressivas comentadas no apartado 2. Para a preservação. E para a desforra.
Finalmente é preciso mencionar o assunto, não muito claro, dos suicídios aborígenes. Existem casos documentados de tribos inteiras que querem desaparecer. Entre os guarani-kaiowá do Brasil, por exemplo, regista-se um suicídio juvenil por semana, uma taxa 34 vezes superior a média nacional. Importa cá dizer que na história recente essa comunidade foi obrigada a viver em reservas para as suas terras serem entregues a agricultores. Na antropologia chamam isto de genocídio silencioso. Igualmente, o governo da Austrália já abriu um projeto para a prevenção do suicídio entre aborígenes, fenómeno que também afeta os nunak da Colômbia ou os atawapiskat do Canadá. Existem muitos mais exemplos, marcados pela pobreza, o álcool, as drogas, a falta de emprego e a discriminação. Nos casos mais leves, os povos simplesmente não encontram no mundo atual vias para se manterem diferenciados e não querem assimilar-se. Deixam de ter descendência, deixam de se projetarem no futuro. Nestes casos, a língua fica diretamente sem falantes.
Todos esses traços estão a se manifestar na nossa tribo, que debate se o seu nome deve ser Galiza (o nome na nossa língua) ou Galicia (o nome em espanhol), que canta a diversidade dialetal e despreza as suas possibilidades de comunicação com outras nações, que carece de referentes nas modas da cultura popular, para além de ter uma alta taxa de suicídio e a menor natalidade da Europa. O Estado espanhol está interessado em apresentar-nos como uma tribo no sentido rudimentar. O Estado português nem sempre olha para nós porque somos a sua origem e a sua vergonha, no sentido de sermos quem se apresenta perante si como falante de espanhol. Se, além do mais, a tradição académica dos estudos linguísticos não se ocupa disto, a supervivência revela-se como assunto complicado [7].
4 A morte das línguas é o fenómeno cultural mais pavoroso que podemos contemplar a dia de hoje porque encena todos os demais: materialismo capitalista, supremacismo branco, ódio para o outro e aplauso generalizado do pensamento único. O problema começou a ser percebido em 1992, quando Michael Krauss publicava um artigo a augurar que para fins do século XXI 90% das línguas faladas naquela altura (já diminuídas relativamente a um século atrás, por exemplo) terão desaparecido [8]. É curioso que na Galiza, sempre que se fala deste tema se levantem feridas. Os conservadores pensam que não é assim tão importante; os nacionalistas pensam que isso não pode ser dito, como se tivessem medo de que a profecia se cumprisse apenas por se falar dela. Porém, proteger o galego na Galiza com medidas legais ou práticas educativas só arranjaria uma parte do problema. Importa é reconhecer que o fenómeno não se deve ao franquismo, às peculiaridades políticas do Estado espanhol ou a qualquer traço idiossincrático dos galegos. As línguas estão a morrer no mundo de maneira acelerada. A globalização influi ainda mais que as políticas dos Estados.
Pensar que a morte das línguas é um problema linguístico (ou de linguistas) é um erro, visto que a própria disciplina, com os seus métodos, está implicada no problema. Na biologia fala-se duma prática "de bota" e outra "de bata", segundo seja feita a partir da observação da natureza ou no laboratório. Usando esse símil, a linguística de bota é escassa; quase todas as escolas que fizeram a história da disciplina foram de bata, no sentido de se fazerem num gabinete. Este panorama muda se colocarmos o foco no interesse suscitado na tradição antropológica dos estudos linguísticos pelas línguas ameríndias. Por serem claramente diferentes das línguas indo-europeias, armadas em modelo para elaborar o imenso aparato conceptual da linguística contemporânea, as variedades ameríndias produzem reflexões de valor filosófico, alertam sobre a existência doutras cosmovisões; desafiam o pensamento único. Finalmente, são um tesouro que deve ser preservado e dalguma maneira também são nossas, das pessoas que falamos outras variedades diferentes e longínquas. Todas as línguas são património da humanidade, como o museu do Louvre ou a muralha chinesa e as que conservam pontos de vista diferentes sobre a realidade constituem uma extraordinária porta aberta para o mundo, porque nos fazem pensar em questões que, da nossa ótica, não poderíamos pensar.
Em luisenho, uma língua do grupo uto-azteca, originária do sul da Califórnia, os verbos têm formas léxicas diferentes para singular, de maneira que o equivalente a correr expressa-se duma maneira se houver um só corredor ou se um grupo de pessoas correrem juntas ou voar terá uma forma para um pássaro a cruzar só pelo céu e outra se a ação for realizada por uma bandada inteira. O luisenho está a conceder valor gramatical aos coletivos. O kalispel, falado no Oregão, não tem formas de substantivo para lago ou montanha; é obrigado a usar verbos e, dessa maneira, assinalar que a montanha ou o lago estão a suceder como um evento; não são entidades passivas. Com efeito, a revolução industrial produziu-se em sociedades que falavam línguas indo-europeias, onde os acidentes da paisagem eram idealizados como coisas e, portanto, um rio podia ser destinado a mover uma turbina e produzir energia, ou uma montanha podia ser furada para obter minerais. Estes exemplos encenam uma diferente maneira de contemplar a natureza e o relacionamento dos humanos com ela; só por esse motivo já deveriam ser preservadas.
Este estilo de conhecimentos sobre línguas consideradas exóticas chega a nós através duma rama dos estudos linguísticos que permite retomar o assunto da tribo e dos indígenas. Nos Estados Unidos, a antropologia e a linguística de começos do século XX percebem que têm um arsenal de dados ao dispor. Esses linguistas superaram o preconceito de que as verdadeiras línguas eram o latim e o grego e lançaram-se a viver em tribos, a apanhar conhecimento delas. Por focar num caso, conhecemos a gramática do potawátomi porque Charles Hockett, um dos vultos da linguística, lhe dedicou a sua tese de doutoramento em 1939. O potawátomi era uma língua de índios. Nesse caso, algonquinos que moravam numa extensa região, da zona do Ontário (no Canadá), até os estados de Wisconsin, Illinois, Indiana e Michigan. Hockett era alguém com um genuíno interesse pelas línguas todas. De facto, serviu no exército e dedicou-se durante anos a escrever um manual de chinês, meticuloso e magnífico, que produziu tanto respeito nos seus superiores como para lhe permitirem dar aulas dessa língua em vez de seguir o treino militar: a tropa tinha que aprender chinês. Eram outras épocas. Ao regressar à vida civil, editou gramáticas de várias línguas ameríndias e os seus trabalhos sempre apareciam ilustrados com exemplos exóticos, que exibiam estruturas diferentes das testemunhadas pelas europeias. Porém, concluídas essas estadias como estudante e como militar, fecha-se em Cornell e não volta a sair. Passa décadas a fazer teorizações e não consegue estimular o trabalho antropológico numa linguística que, a partir dos anos 1950, fica orientada para os modelos formais de Chomsky de quem Hockett será adversário linguístico. Explico isto porque a intervenção de Hockett, embora fosse um entusiasta praticante da linguística de bota, serviu afinal para que tivéssemos potawátomi em lata, não fresco. Temos potawátomi bem descrito, com as suas peculiaridades de idealizar o tempo como circular, mas não conseguimos preservá-la: a última falante de potawátomi faleceu em 2011. Dos 12 mil potawátomis que ainda existem ninguém fala a língua, mas existe um programa de recuperação no ensino, algo bastante frequente nas línguas ameríndias de muitos estados norte-americanos; teimam em que as crianças o aprendam nas escolas e têm atualmente uma importante quantidade de recursos.
Quanto aos estereótipos sobre os potawátomis, como em geral sobre todos os índios americanos, são muitos e parcialmente contraditórios. Do início do contato intercultural, foi repetido que os índios eram selvagens, indisciplinados, preguiçosos e bêbedos. Em simultâneo, e devido ao sentimento de culpa que aflige as sociedades ocidentais ao contemplar a comprida história de abusos e traições perpetradas pelos brancos sobre os índios, é habitual louvar as suas habilidades, especialmente o relacionamento com a natureza e a espiritualidade. Hoje, existe um grande interesse pela produção artística dos potawátomi. Porém, cabe notar que as suas produções representam a imaginaria ocidental do índio, não a sua própria. Como o potawátomi era um povo originário da floresta profunda do Michigan, os seus símbolos não se relacionam exatamente com os espaços que hoje habitam, num claro sintoma de perda de identidade. Isto na Galiza lembra-me profundamente ao Halloween que substitui aos ritos tradicionais de defuntos, ou às festas (feria de abril, touradas) importadas do sul da Espanha com grandes campanhas publicitárias. Os indígenas do mundo não podem reconciliar-se com instituições que os dispersam ou os aniquilam. Na América, os indígenas noutras épocas não falavam as línguas dominantes nem entendiam as rotinas do trato com os governos. Porque o método índio tradicional de resolver problemas consiste, precisamente, em se reunir em concílios para falar todos os temas e chegar a consensos. Abandonar a língua implicou abandonar o como falar, mas também o de que falar, o costume de decidir conjuntamente sobre todos os assuntos. Com as devidas distâncias, porque a cultura galega é uma cultura europeia, isto está a passar aqui: aculturação, perda de traços diferenciais e aceitação do modo de vida dos países ditos desenvolvidos. No caso galego, a perda de perfil diferenciado aprecia-se em que eucaliptalização e desgaleguização sejam processos paralelos. Cada tribo precisa perceber o seu caráter único, através de experiências relevantes. Nem os índios parvos dos westerns, nem Potahontas podem ser referentes. Também não os índios que presenteiam com tabaco e tomates aos senhores navegantes europeus. Cada grupo deve decidir se quer defender a sua terra e os seus símbolos. Eis o legado dos movimentos em defesa da língua nos países sem Estado da Europa. Eis o papel do povo galego no conjunto da lusofonia.
5 A variedade de português falada ainda na Galiza, o galego, pode subsistir. Comparado com o norueguês, o danês ou o hebreu, não é assim muito menor em número de falantes, mas diferentemente dessas línguas não conta com um aparato de Estado na sua defesa. Uma possibilidade de revitalização muito presente no ativismo passa por estreitar os laços com o resto da lusofonia. Isso exige vários compromissos.
Em primeiro lugar, deveríamos revistar os nossos próprios preconceitos como sociedade, recuperando a fala dos nossos maiores e procurando a confluência com as demais falas lusófonas. A nossa língua ganharia em respeito ao passado e em capacidade de comunicação internacional, precisamente a via que o ativismo linguístico explora. Em segundo lugar, deveríamos exigir da administração uma escolarização rigorosa, quer dizer, a aprendizagem do português nas aulas galegas como exige a lei Paz Andrade. Não se trata de falarmos ao modo de Lisboa, mas de termos capacidade de desenvolver as nossas peculiaridades. Precisamos dum quadro internacional de contactos culturais e económicos que favoreça a estima dos falantes pela sua língua. Nesse sentido, é importante evitar o risco da atomização. A diversidade implícita na dialetologia, tem sido usada como arma política. Daí o apego, academicamente dirigido, às falas locais hibridadas com o espanhol. É curioso o interesse em escrever com a grafia do espanhol que nos afasta dos demais países que falam o nosso idioma e que não vejamos como perigoso ter perdido o futuro de conjuntivo que nos permite pensar no futuro como uma realidade, com o imenso valor político de dar forma gramatical às utopias. Finalmente, como indígenas, temos muito que dar ao conjunto da lusofonia. À partida, o reencontro histórico com as raízes pode curar os males da colonização. Que as crianças em Luanda ou no Rio de Janeiro falem com palavras que podem estimular a fraternidade num tempo onde o conceito de colónia deixou de afetar os mapas para se instalar nas mentes, nas relações de classe e de género. Na Galiza a língua está enferma. Por isso deviam sentir-se comovidos por esse problema noutros territórios lusófonos; porque é a sua mesma língua que está em perigo. Quando o inglês invade tudo, os galegos podemos ser um indicador de identidade. O termo indigenismo aparece na década de 1930 com o significado de política ou ação especial dirigida aos aborígenes. Neste significado estava incluída a modernização (a ideia de que era preciso aprimorar as condições económicas e sociais dessas minorias), mas também a indianização que visava resgatar, revalorizar ou reinventar elementos indígenas relativos às línguas e às culturas (costumes, instituições tradicionais, tratamento da terra e dos recursos naturais; exatamente os aspetos que na Galiza estão presentes nas reivindicações políticas do ativismo linguístico). Eis o efeito da emergência: pareceria que durante os séculos XIX e XX, à medida que o liberalismo se centrava nos direitos de cidadania, os indígenas teriam desaparecido. Porém, indígenas existimos, tribos existimos. Temos dificuldades para manter o nosso legado ancestral e fazer parte do conjunto da humanidade. Temos dificuldades com o conceito de Estado homogeneizador. Temos dificuldades para decidir se a nossa descendência será ou não indígena. Mas guardamos ainda as nossas diferenças. Porque o poder subversivo de sermos tribo implica aceitar que, como na biologia, na língua a diversidade é riqueza.
NOTAS
1. Utilizo a grafia @ para expressar a diversidade de género a evitar a duplicação masculino/feminino.
2. Existem cifras oficiais para corroborar essa leitura que podem ser comprovadas nos diferentes volumes do Atlas Sociolinguístico de Galicia publicado pela Real Academia Galega em 2004 (de consulta on-line). Para uma versão das causas lida em termos de ecologia linguística, vid. Moreira Barbeito, M. (2014), Contra a morte das línguas. O caso do galego, Vigo, Xerais.
3. O galego aparece hoje como língua independente em muitos atlas de línguas do mundo, entre eles o Ethnologue.
4. Moure, T. (2014). Uma mãe tão punk, Lisboa: Chiado.
5. Linguagem e ideologia: o inventário da linguodiversidade (PGIDIT02PXIA20406PR).
6. O fragmento corresponde a um artigo de Doreen Baingana publicado em The Africa Report, 23 de novembro de 2009.
7. Para uma informação mais detalhada destes e doutros dados incluídos no presente artigo, vid. Moure, T. (2019), Linguística eco. O estudo das línguas no Antropoceno, Santiago de Compostela: Através editora.
8. Krauss, M. (1992), "The world's languages in crisis". Language, 68, p. 1-42.
* Nota do editor: Este artigo está escrito em português da Galiza. Optamos por manter a grafia e o léxico, pois apesar de algumas pequenas diferenças em relação ao português brasileiro (como alguns acentos e palavras), o texto é completamente compreensível.