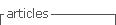Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
Print version ISSN 0009-6725
Cienc. Cult. vol.64 no.1 São Paulo Jan. 2012
http://dx.doi.org/10.21800/S0009-67252012000100020
ARTIGOS E ENSAIOS
Deslocamentos contemporâneos: notas sobre memória e arte
Ludmila Brandão
Arquiteta e historiadora, doutora em comunicação e semiótica pela PUC/SP com pós-doutorado em crítica da cultura pela Université d'Ottawa. Professora do Departamento de Artes e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e autora de A casa subjetiva. Matérias, afectos e espaços domésticos (Perspectiva, 2008)
Genericamente, deslocar é o ato de mudar algo de um lugar para outro, mas também significa mudança de direção, desvio no sentido do movimento de algum sujeito ou objeto. Essa operação tão corriqueira - afinal, estamos fazendo isso o tempo todo - dá ensejo a consequências nada desprezíveis. Tanto faz se é algum objeto sob nossa guarda que é deslocado (de uma paisagem a outra), ou se somos nós a escolher outro ponto de vista sobre esse objeto, o fato é que o mundo que se constitui a partir desse deslocamento é totalmente outro.
Não fosse o cérebro que temos, acostumado a editar e organizar - como na montagem de um filme - as sucessivas mudanças na nossa percepção a cada piscar de olhos, não suportaríamos viver mais que algumas horas com esses sentidos, tal como foram herdados do homo sapiens. Um belo exemplo dessa impossibilidade da existência, em situação de falha no sistema de amortecimento e elisão da percepção das sucessivas paisagens que se configuram em torno, e a partir de nós, infinitamente, é encontrado na insólita figura do memorioso de Jorge Luis Borges. Funes (1), por uma contingência qualquer, torna-se portador de uma memória absoluta: passa a se lembrar de cada instante vivido como absolutamente singular; para ele, não é mais possível reunir, sob um nome genérico, situações semelhantes. Efetivamente, não há mais nenhuma semelhança, todas as experiências são terrivelmente singulares e, por isso, impossibilitadas de serem esquecidas.
O cárcere em que se transformou sua memória, condenando-o no presente a uma ladainha sem fim do passado, produz em Funes a impossibilidade de pensar. Pensar, mesmo quando atravessado por imagens do passado, é ação que se processa no curso do presente, integralmente. Para pensar é preciso esquecer.
Como não somos Funes, os deslocamentos podem eventualmente parecer desprezíveis, mesmo em meio às reconfigurações sucessivas do espaço. Mas, em princípio, qualquer que seja o deslocamento, desde atravessar a rua para comprar um maço de cigarros ou cruzar o planeta para alimentar a imaginação, estamos sempre diante de algo como um rearranjo do mundo. E isso é tanto mais verdadeiro quanto mais esse deslocamento físico é, sobretudo, intensivo, o que explica o fato de se dar até mesmo na ausência de qualquer mobilidade, como na leitura de um livro. As experiências estéticas podem ser tomadas como viagens que arejam a vida, criam folgas, falhas, brechas; são linhas de fuga que põem em curso outras rotas, que tornam possível outra e nova existência.
Às vezes, deslocar-se é refazer um suposto mesmo caminho com uma atenção rara, em estado de alerta, être aux aguets, ao modo do que nos diz Gilles Deleuze: "estar sempre à espreita, como um animal, como um escritor, um filósofo, nunca tranquilo, sempre olhando por sobre os ombros" (2).
Deslocar ou deslocar-se é um procedimento usual de artista. Ou melhor, de um modo artístico de viver, no sentido da recomendação feita por Nietzsche de tratar a própria vida como obra de arte, como experimento estético.
O que este texto pretende é ensaiar um deslocamento no modo como em geral formulamos nossos discursos sobre a memória, para reencontrá-la em outros termos, quiçá mais interessantes.
A MEMÓRIA DESLOCADA
Não é de agora o debate em torno do lugar da memória na sociedade ocidental, nem sequer deste século. Efetivamente, quem colocou uma cunha naquilo que se tinha por assentado, ou quem provocou e continua assombrando a discussão sobre o lugar da memória, especialmente um tipo de memória, aquela que se consumará no registro historiográfico, foi Nietzsche. Sua crítica radical e mais ampla tem como alvo a ideia de verdade, especialmente a pretensão de uma verdade científica. Curiosamente, ele começa por mostrar, algo como os pés de barro da ciência. Diz que os seus fundamentos no Ocidente nada têm de científico, que se trata de uma fé na verdade. Não que invocasse outros pés mais sólidos, mas para mostrar aquilo que a ciência no Ocidente prefere esquecer, ou seja, que ela se constrói a partir de um julgamento de valor, conforme o qual a verdade é o bem supremo e a mentira, o falso, o simulacro devem ser esconjurados. É claro que sua crítica recai sobre a própria dicotomia - verdadeiro-falso - instaurada, segundo ele, desde Sócrates na Grécia Antiga. O que podemos verificar é que essa vontade de verdade suprema assenhorear-se-á de todos os campos da ciência. Quanto ao falso, à mentira, ao fingimento, ao simulacro, estes serão remetidos ao campo da arte. Arte e ciência estão, desde então, em campos opostos e se relacionam assimetricamente, cujo lugar privilegiado passa a ser, e de certa forma continua sendo, o da ciência.
Mas a ciência não se limita à vontade de verdade, ela ambiciona, ao mesmo tempo, o conhecimento total (verdade absoluta): encontraremos aqui uma antropologia ávida para registrar todos os povos, conhecê-los integralmente, esquadrinhar suas almas; uma sociologia para identificar minuciosamente o funcionamento da sociedade, discriminar todas as relações sociais; uma psicanálise, no nível do indivíduo, pretendendo, a seu modo, fazer antropologia e história do inconsciente e, finalmente (o que aqui nos interessa), uma história para registrar todos os acontecimentos, catalogar e conservar todos os documentos, capturar o tempo total de todas as sociedades, segundo um eixo de tempo linear e cumulativo.
Ainda que a memória não se resuma a uma memória histórica, social, será a história-disciplina que a tomará como a matéria sobre a qual construirá seu suposto saber.
O deslocamento operado na ideia de verdade, ou a desnaturalização a que Nietzsche submete a verdade nos leva a perceber que algo da mesma natureza se verifica com a memória: a crença na memória como positividade absoluta é totalmente arbitrária e conduz, por sua vez, à lamentação do esquecimento, transformado em experiência negativa de perda. Para o Ocidente, a saúde está na lembrança. Por isso, a psicanálise e as muitas psicoterapias, com algumas exceções, continuam por aí escarafunchando baús existenciais à cata daquilo que foi esquecido, do fato traumático que, acobertado, agiria traiçoeiramente ao longo de toda a vida do sujeito, boicotando-o, emperrando o fluxo de seu almejado conhecimento/crescimento pessoal. Ainda que Freud tenha insistido nos laços indissolúveis entre memória e esquecimento, afirmando que a memória é apenas outra forma de esquecimento e que o esquecimento é uma forma de memória escondida (3), generalizou-se a ideia de que a lembrança do trauma devolveria ao fato sua verdadeira dimensão e criaria as condições de resolução dos conflitos que se instalaram no indivíduo ou nas sociedades, provocados pelo esquecimento. O culto ao holocausto é talvez o melhor exemplo na esfera do coletivo.
O ensaísta alemão Andréas Huyssen, no livro Seduzidos pela memória, diz que desde a década de 1970, pode-se observar, na Europa e nos Estados Unidos, uma curiosa proliferação de práticas de memória:
"a restauração historicizante de velhos centros urbanos, cidades-museus e paisagens inteiras, (...) a onda da nova arquitetura de museus (que não mostra sinais de esgotamento), o boom das modas retrô e dos utensílios reprô, a comercialização em massa da nostalgia, a obsessiva automusealização através da câmera de vídeo, a literatura memorialística e confessional, o crescimento dos romances autobiográficos e históricos pós-modernos (...), a difusão das práticas memorialísticas nas artes visuais, geralmente usando a fotografia como suporte, e o aumento de documentários na televisão, incluindo, nos Estados Unidos, um canal voltado para a história: o History Channel" (agora à disposição na tv paga do mundo inteiro) (4).
Com base nessa observação, o autor afirma "que o mundo está sendo musealizado e que todos nós representamos os nossos papéis nesse processo. É como se o objetivo fosse conseguir a recordação total". A memória teria, então, se tornado uma obsessão cultural de proporções monumentais, em todos os pontos do planeta cada vez mais ocidentalizado, ainda que o lugar político das práticas de memória continue sendo local. Enquanto assistimos à ampliação da disseminação geográfica da "cultura da memória", verifica-se também a variedade do seu uso político (talvez, o uso mais comum dessas práticas). É tal a amplitude do fenômeno, diz Huyssen, que muitos críticos têm acusado a própria cultura da memória contemporânea de amnésia, apatia ou embotamento, o que nos coloca diante de um paradoxo segundo o qual o aumento explosivo de memória estaria inevitavelmente acompanhado de um aumento explosivo de esquecimento (5).
São várias as teses que pretendem explicar ou interpretar esse crescimento fenomenal das práticas discursivas em torno da memória, particularmente no âmbito da historiografia, conforme diz Huyssen, mas de forma generalizada nos discursos midiáticos e do próprio senso comum. O argumento conservador, refutado também por Huyssen sob a acusação de demasiadamente simples e ideológico, reza que a musealização cultural é uma resposta compensatória à perda da identidade nacional, provocada pelas destruições modernizadoras. Huyssen, por sua vez, prefere argumentar que tanto a memória como a musealização são partes da construção de um sistema de proteção "contra a obsolescência e o desaparecimento, para combater a nossa profunda ansiedade com a velocidade de mudança e o contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço" (6). Ocorre que, nesse processo, ainda segundo Huyssen, escapar-nos-ia à percepção o fato que qualquer senso seguro do próprio passado estaria sendo "desestabilizado pela nossa indústria cultural musealizante e pela mídia, a qual funcionam como atores centrais no drama moral da memória. A própria musealização é sugada nesse, cada vez mais veloz, redemoinho de imagens, espetáculos e eventos e, portanto, está sempre em perigo de perder a sua capacidade de garantir a estabilidade cultural ao longo do tempo".
Dificilmente discordaríamos dessa leitura. Todavia dois pontos me parecem passíveis de discussão. Primeiro, nessa proporcionalidade direta que estabelece entre velocidade do mundo contemporâneo e ambição da captura total do passado. É indiscutível que a experiência de velocidade, a radical transformação das sensibilidades espaço-temporais que vivenciamos é um dos critérios de designação de outra era, não mais moderna. Mas não a colocaria no mesmo "phylum maquínico", para usar a expressão de Gilles Deleuze e Félix Guattari em Mil platôs (7), que esse passado esquadrinhado, disciplinado, arquivado. Nada mais moderno do que essa operação. A musealização ocorre-me não como um traço de pós-modernidade ou de reação às suas dinâmicas, mas como um desdobramento limite da vontade de verdade agindo sobre o passado, de desejo de captura e conservação da duração. Teríamos aqui dois fluxos paralelos de diferentes temporalidades ou pertencentes a diferentes diagramas socioculturais. Por isso, ao contrário de Huyssen que procura restringir ao seu tempo as terríveis palavras de Nietzsche sobre a história, nas famosas Considerações extemporâneas (8), tomo-as como absurdamente atuais: "Pois, no caso de uma certa desmedida de história, a vida desmorona e degenera e, por fim, com essa degeneração, degenera também a própria história" (9). Eis aqui um lúcido prenúncio da musealização. Mas, é preciso ainda fazer incidir nesse fenômeno, para acentuá-lo, ainda mais, o vetor de um capitalismo tardio que alça à posição de mercadoria o trabalho imaterial e todos os bens que dele resultam (10). No descompasso que verificamos entre certa arte, ao menos, e a ciência ocidental de um modo geral, entre as preocupações de uma e de outra encontramos algo que nos ajuda a compreender essa situação. Desde Duchamp, essa "certa" arte tem estabelecido outra relação com o passado, com a memória, com a tradição que vai desde o desprezo absoluto - vide os futuristas - a uma irreverência sem par. Desde os anos 60, muito do que foi chamado de arte pós-moderna, ou algo similar, tem retomado, desdobrando-a de inúmeras maneiras, a irreverência dadaísta, experimentando outras formas de articulação das temporalidades, composições transversalizadas do tempo. O tempo histórico (aquele que pretende a verdade do passado) não tem a menor importância para essa arte. Aliás, para Nietzsche, novamente, "a história é o oposto da arte" (11). A memória, quando matéria dessa certa arte, não é relíquia investida de sagrado. Aí nada é sagrado. Tudo é absurdamente humano. Por isso, suas operações criativas, seus procedimentos inventivos admitem deslocamentos que corrompem, usurpam, arrombam ou simplesmente ignoram a memória.
Olalquiaga, em Megalópolis. Sensibilidades culturais contemporâneas, diz que, gostemos ou não, o pós-modernismo é um estado de coisas. "É determinado, basicamente, por um intercâmbio extremamente rápido e livre para o qual a maioria das respostas são falhas, impulsivas e contraditórias" e que suas principais características são a versatilidade e o esvaziamento de hierarquias (12).
É nesse sentido que não tomo como coprodutores do mesmo fenômeno, ainda que simultâneos, a velocidade, a versatilidade e a horizontalização - que poderíamos dizer traços de pós-modernidade - com essa compulsão pela memória, com essa vontade de nos tornarmos todos Funes.
Um segundo ponto a considerar na leitura de Huyssen, ainda mais sutil, é a reiteração subliminar da memória como índice de saúde quando diz que a desestabilização de um "senso seguro do próprio passado", produzida pelas velocidades contemporâneas é que exige um "sistema de proteção" que vai da memória à musealização, ainda que esta última acabe por colocar em risco aquilo que professa.
Conforme essa compreensão, seria impensável uma vida consistente e saudável sem a conservação de parte do passado, de algum núcleo duro do passado, como bem reivindicam as sociedades marcadas por processos identitários. Custa-nos crer, nessa perspectiva, que poderiam existir sociedades que não creditam à memória nenhum índice de saúde, que não precisam conservar, cultuar ou registrar os acontecimentos para a posteridade, não porque seriam ágrafas, sociedades sem história, mas porque estabelecem uma outra relação com a memória.
Entre os Cinta Larga, povo de língua Tupi-Mondé que habita o noroeste de Mato Grosso e sudeste de Rondônia, diz-nos o antropólogo João Dal Poz (13), que à morte de alguém segue-se a morte de todos os animais domésticos da aldeia que, em geral, serão comidos numa refeição ritual, à exceção dos filhotes muito pequenos. "Disto dizem duas coisas: primeiro, que estão sofrendo e ficam com raiva dos animais, segundo, como o morto conheceu os animais, estes despertariam lembranças. (...) Tudo que pode lembrar o morto, de uma forma ou outra, é sistematicamente destruído pelos Cinta Larga, tanto seus pertences atuais como os que foram dele um dia". Queimam-se redes, roupas e sapatos, colares, isqueiros, sementes, como também furam panelas, inutilizam facas, queimam fotografias que por acaso existam. O antropólogo refere-se, por exemplo, ao caso de um pai, cujo filho morreu no garimpo, que ergueu uma parede de paxiúba (14) para isolar o espaço que o filho costumeiramente ocupava. O que pretendem ao queimar e quebrar os objetos, ao matar e comer os animais domésticos? Eliminar definitivamente tudo no mundo que envolvia o defunto e que teria subsistido à sua morte. Eliminar qualquer possibilidade de evocação. Ao matarem os animais domésticos, chamados gômey, matam o morto uma vez mais, ou o seu espectro, "já que é a "memória" dele que os gômey carregam. Comendo os gômey, os vivos consomem estas 'sombras' do morto, e dele separam-se definitivamente" (15).
Os Cinta Larga parecem-nos profundamente nietzschianos. Soam como suas as palavras de Nietzsche que uso para arrematar este texto: "Mas nas menores como nas maiores felicidades é sempre o mesmo aquilo que faz da felicidade felicidade: o poder esquecer ou, dito mais eruditamente, a faculdade de, enquanto dura a felicidade, sentir a-historicamente. Quem não se instala no limiar do instante, esquecendo todos os passados, quem não é capaz de manter-se sobre um ponto como uma deusa de vitória, sem vertigem e medo, nunca saberá o que é felicidade e, pior ainda, nunca fará algo que torne outros felizes" (16).
NOTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Personagem do conto de Borges intitulado "Funes, o memorioso". Em: Jorge Luis Borges: prosa completa, Barcelona: Ed. Bruguera, 1979, vol. 1, pp. 477-484.
2. L'Abécédaire de Gilles Deleuze. Avec Claire Parnet. DVD 453min. Editions Montparnasse, s/d. Tradução livre.
3. Apud Huyssen, A. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Trad. Sergio Alcides. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p.18.
4. Huyssen, A., op cit. p. 14. 2000.
5. Huyssen, A., op cit. p. 18. 2000.
6. Huyssen, A., op cit. p. 28. 2000.
7. Deleuze, G.; Guattari, F. "1227 - Tratado de nomadologia: a máquina de guerra". In: Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. Trad. Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo, Editora 34, pp. 11-110. 1997.
8. Nietzsche, F. "Da utilidade e desvantagem da história para a vida". In: Nietzsche. Coleção "Os pensadores". São Paulo: Nova Cultural, pp. 273-287, 1999.
9. Nietzsche, F., op cit. p. 276.
10. Ver a propósito, Hardt, M. e Negri, A. Empire. Paris: Exils, 2000.
11. Nietzsche, F., op cit. p. 281.
12. Olalquiaga, C. Megalópolis. Sensibilidades culturais contemporâneas. Trad. Isa Mara Lando. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
13. Dal Poz, J. "No país dos Cinta Larga. Uma etnografia do ritual". Dissertação de mestrado apresentada no programa tal do departamento ou FFLCH, da Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1991.
14. Tipo de palmeira.
15. Dal Poz, J., op cit.
16. Nietzsche, F., op cit. p. 273.