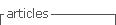Services on Demand
Journal
Article
Indicators
Related links
-
 Cited by Google
Cited by Google -
 Similars in
SciELO
Similars in
SciELO
Share
Ciência e Cultura
On-line version ISSN 2317-6660
Cienc. Cult. vol.67 no.3 São Paulo July/Sept. 2015
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602015000300016
MUNDO
Criaturas do sol na terra
Pedro Peixoto Ferreira
Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação - Grupo de Pesquisa Conhecimento, Tecnologia e Mercado (LaSPA/CTeMe)
Em Da anatomia comparada dos anjos, de 1825, Dr. Mises (pseudônimo de um dos principais criadores da psicofísica, Gustav T. Fechner) concebeu o olho como "uma criatura solar na Terra" que "vive pelos e nos raios do Sol" (1). A despeito do tom satírico com que foi apresentada originalmente (2), a concepção ganha especial interesse quando percebemos que, de uma maneira pouco usual, se refere mais a nossos olhos e ao seu mundo de luz solar do que a nós, seus simples portadores terrestres. Tomarei emprestada essa proposição relativa à anatomia dos anjos (que, para o Dr. Mises, seriam "olhos que se tornaram livres") para investigar algumas formas de existência dessa criatura solar na Terra.
Olhando a partir da Terra, o Sol é uma bola de fogo voando no céu, nascendo de um lado do horizonte e se pondo no outro. E "olhar a partir da Terra", entendido não apenas como a criação de representações visuais, mas também como a capacidade de habitar um mundo luminoso, é um modo de existência compartilhado por diversos seres vivos e substâncias materiais. Seria o caso de lembrar aqui uma das proposições fundamentais da filosofia da vida de Henri Bergson, segundo a qual a vida pode ser vista como uma espécie de economia energética, o ser vivo se definindo pelas operações de (i) acúmulo e reserva de energia e (ii) gasto direcionado da energia acumulada.
[A] principal fonte da energia utilizável na superfície de nosso planeta é o Sol. O problema, portanto, era o seguinte: fazer com que o Sol, aqui e ali na superfície da terra, viesse a suspender seu gasto incessante de energia utilizável, armazenasse uma certa quantidade, sob forma de energia ainda não utilizada, em reservatórios apropriados de onde poderia depois escoar-se no momento desejado, no lugar desejado, na direção desejada. (3)
Para Bergson, então, a vida é essencialmente "um esforço por acumular energia e por soltá-la depois em canais flexíveis, deformáveis, na extremidade dos quais realizará trabalhos infinitamente variados" (4). Mas existe, da perspectiva das criaturas solares na Terra, uma nítida continuidade entre energia e informação, ambas estando sempre presentes em graus variados: desde as funções mais fundamentalmente energéticas do metabolismo corporal até as funções mais fundamentalmente informacionais do sistema nervoso, para o olho, tudo se resolve na luz. A fotossensitividade manifesta esse modo de existência nas formas de fototropismo, foto-orientação, fotossíntese, fotorecepção, reações fotoquímicas etc, e é para essas funções de natureza eminentemente informacional (mas sempre, em algum grau, energética) que nos voltaremos aqui a partir de uma rápida consideração de uma transição entre duas formas diferentes de visão: (i) a visão objetivante da câmara escura; e (ii) a visão subjetiva do laboratório de fisiologia.
Se é verdade que, como disse um fisiologista polonês, a percepção sensorial "permite ao organismo encarar ativamente as forças que operam em seu mundo" (5), então quais forças cada uma dessas formas de visão permite encarar, e com que resultados? Sem pretender oferecer respostas a essas questões, este texto propõe sondar alguns de seus elementos, tendo sempre em mente a dificuldade adicional envolvida em qualquer pesquisa que investigue seus próprios instrumentos de investigação - ou, na formulação de um fisiologista inglês: "Na maior parte de nossa investigação sobre o mundo, consideramos a informação que nossos sentidos nos dão, mas quando estudamos os sentidos eles mesmos, estamos tentando examinar os próprios meios pelos quais obtemos informação" (6).
A luz como expressão do mundo
A visão monocular da perspectiva renascentista é o caso ideal do primeiro tipo de visão que gostaria de considerar aqui, na qual a luz age como expressão do mundo, i.e. de um mundo exterior dado e objetivo que se apresenta como único e absoluto. Não que a perspectiva renascentista tenha nisso seu objetivo, mas não se pode negar que esse é um de seus efeitos, aliás bastante bem aproveitado pela ciência em sua laboriosa (e controversa) busca pela objetivação de um conhecimento que se pretende objetivo (7).
Segundo Jonathan Crary, foi no final dos anos 1500 que a figura da câmara escura começou a assumir "uma importância proeminente na delimitação e definição das relações entre o observador e seu mundo" (8), um ponto de passagem obrigatória (9) para se conceber e representar a visão. Crary encontrou, nesse processo, o aparecimento de um novo modelo de subjetividade, baseado na individualização do observador (isolado, recluso e autônomo) e na sua ausência do próprio ato gerador da imagem (delegado para o dispositivo e seus mecanismos). Assim, por um lado, esse observador ficava isolado do mundo, recluso em um ambiente escuro no qual tudo (até mesmo seu próprio corpo) parecia recuar para o segundo plano em comparação com o cone de luz exterior que, penetrando por um orifício controlado, projetava (e portanto objetivava, tornava mensurável) imagens das paisagens e formas exteriores. Crary mostra isso em Optiks (10), quando Isaac Newton encontra na câmara escura "um meio transparente, refrativo, de representação", que "impede o observador de ver sua própria posição como parte da representação" (11). Mostra isso também em Essay concerning human understanding (12), quando John Locke apresenta a câmara escura como uma espécie de tribunal que "permite ao sujeito garantir e policiar a correspondência entre o mundo exterior e a representação interior" (13).
Por outro lado, além de gerar uma representação visual entendida como objetiva, a câmara escura também se tornou uma representação objetiva da própria visão, entendida como a projeção de uma imagem no fundo do olho (retina) a partir de um cone de luz que penetra por um orifício controlado (a pupila). Crary mostra isso em La dioptrique (14), na forma como René Descartes, ao aproveitar o célebre experimento do padre alemão Christopher Sheiner e inserir um olho biológico com o fundo descascado (de forma a expor o verso da retina) no orifício pelo qual a luz exterior entra controladamente dentro da câmara escura, fez desse olho uma câmara escura em seu próprio direito - e da câmara escura, "[f]undada nas leis da natureza (ótica) mas extrapolada para um plano fora da natureza" (na forma de artifício), um "ponto de vista privilegiado para o mundo análogo ao olho de Deus" (15).
A câmara escura, com sua abertura monocular, se tornou um terminal mais perfeito para o cone da visão, uma encarnação mais perfeita de um ponto único do que o inconveniente corpo binocular do sujeito humano. A câmera, em certo sentido, era uma metáfora para as possibilidades mais racionais de um observador em meio à crescente desordem dinâmica do mundo. (16)
O experimento de Sheiner celebrado por Descartes se, por um lado, ajudou a desacreditar as teorias emissivas da visão (baseadas na emissão de luz pelo olho) reinantes até então (17), por outro fortaleceu a ideia (atribuída originalmente a Johannes Kepler) de que a visão envolve a formação de uma imagem retiniana análoga à formada numa câmara escura ou em um de seus principais desdobramentos tecnológicos, a câmera fotográfica. A visão é aqui, como a fotografia para Philippe Dubois (18), uma "economia geral da luz", sua gestão cuidadosa tendo em vista a produção de uma imagem fiel da cena observada.
Partamos do mais banal. Para fazer um retrato, é claro que é necessário ter luz para iluminar o sujeito; é necessário que o mesmo irradie, que a luz emane dele para atingir e queimar essa "película tão sensível", tão reativa às suas emanações que ela conservará sua impressão. Ao mesmo tempo e paradoxalmente, também é necessário que essa luz deixe de ser, se quisermos que a imagem apareça finalmente: a revelação faz-se na câmara escura. [...] A luz é, portanto, o que é necessário ao surgimento da imagem, mas é também o que pode fazê-la desaparecer, apagá-la, eliminá-la por inteiro: é preciso se proteger dela tanto quanto procurá-la. Em suma, o corpo fotográfico nasce e morre na luz e pela luz. (19)
Mas se esse "corpo fotográfico", e para todos os efeitos, nesse contexto, esse "corpo da visão", "nasce e morre na luz e pela luz", ele também já nasce, de certa forma, morto, na medida em que encontra sua imagem acabada na retina descascada de um olho retirado de um animal recém-abatido. Dubois (20) conta que, em 1870, um médico membro da Sociedade de Medicina Legal de Paris apresentou, num artigo publicado na Revue Photographique des Hôpitaux de Paris, um "estudo fotográfico da retina de sujeitos assassinados". O objetivo da investigação era, aparentemente, verificar a utilidade de se procurar, nas imagens residuais da retina (resultado do fenômeno de retenção retiniana) de pessoas assassinadas, provas ligadas ao crime, em especial que permitam a identificação do assassino. Apesar de não terem tido tanta serventia criminológica, os assim chamados "optogramas" bem que poderiam ter gerado alguns retratos reveladores de fisiologistas que, em nome do avanço da ciência sacrificaram animais apenas para encontrar, no fundo de seus olhos, a janela de seus próprios laboratórios (21).
A luz como expressão de um mundo
É nos experimentos que Goethe realizou durante a construção de sua teoria das cores que Crary encontra um significativo marco de transição entre a visão objetivante da câmara escura e a visão subjetiva que se tornaria um objeto de investigação privilegiado na psicofísica (22). Crary nota como, nos parágrafos iniciais de Farbenlehre (Teoria das cores, 1810), Johann Wolfgang von Goethe parece reiterar a já então antiga visão objetivante da câmara escura, ao descrever um experimento no qual um observador fixa o olhar em um círculo luminoso projetado na parede de um quarto escuro a partir de um furo na parede (23). No entanto o interesse da descrição para Crary está na forma como Goethe subitamente subverte a visão objetivante da câmara escura ao propor, na sequência, que se feche o orifício pelo qual penetra a luz exterior e que o observador volte seu olhar para "a parte mais escura do quarto":
(...) ele verá uma imagem circular flutuando diante dele. O miolo do círculo aparecerá brilhante, sem cor ou um tanto amarelado, mas sua borda aparecerá vermelha. Após certo tempo este vermelho, crescendo rumo ao centro, cobre todo o círculo até o ponto central brilhante. No entanto, assim que todo o círculo fica vermelho, a borda começa a se tornar azul, e o azul gradualmente avança rumo ao centro cobrindo o vermelho. Quando tudo fica azul a borda se torna escura e sem cor. Tal borda escura também lentamente avança sobre o azul até que o círculo todo toma aparência descolorida. (24)
Em uma carta de 1691 para Locke, Newton relatou uma experiência comparável à de Goethe. Dentro de uma câmara escura (ou seja, em uma situação de iluminação controlada), Newton olhou durante um breve instante para o Sol refletido em um espelho e, imediatamente, se voltou para "um canto escuro" do quarto e observou "os círculos coloridos que decaíam gradualmente até desaparecerem". Repetindo a operação algumas vezes, Newton percebeu que poderia reverter intencionalmente esse gradual desaparecimento e fazer os círculos coloridos voltarem a ter a mesma vivacidade que tinham quando acabara de olhar para o reflexo do Sol. Além disso, percebeu também que poderia reavivar a visão dos círculos coloridos desde que estivesse em um ambiente escuro, se concentrasse sua fantasia (fancy) na direção certa: "eu podia fazer o fantasma voltar mesmo sem olhar mais para o Sol".
Após exercitar suficientemente essa capacidade, Newton afirmou não apenas que, "se eu olhasse para as nuvens, ou para um livro, ou para qualquer objeto claro, eu via nele uma mancha redonda e brilhante como o Sol", mas também que, apesar de todo o experimento ter sido realizado usando apenas o seu olho direito, o olho esquerdo também passou a ter as mesmas visões. Após algumas horas de experimentação, Newton exauriu seus olhos a ponto de não conseguir mais ler, escrever, ou fixá-los em qualquer objeto claro, e a ponto de não mais conseguir fazer desaparecer a imagem do Sol fixada em sua visão. Ele se viu então obrigado a permanecer "três ou quatro" dias no escuro e, o que era particularmente difícil naquela situação, sem pensar no Sol (uma vez que o mais breve movimento da imaginação nesse sentido fatalmente promovia o retorno do "fantasma", mesmo na mais absoluta escuridão), após o que seus olhos voltaram a lhe ser úteis, mesmo que nunca tenham se recuperado totalmente (25).
Para Newton, tais visões não tinham implicações científicas relevantes, sendo, pelo contrário, encaradas muito mais como casos de ilusões subjetivas. Mas para Goethe e outros pesquisadores do século XVIII, o fato de que a visão se manifestava mesmo no escuro - i.e., mesmo quando nenhuma luz entra na câmara escura - se tornou um problema incontornável na compreensão científica da visão. Que visão seria essa, que parecia não precisar de luz exterior para existir? Não por acaso, os fosfenos se tornaram um importante personagem nessa transição da câmara escura para o laboratório de fisiologia.
Palavra criada em 1838 pelo médico francês Jean Baptiste Henri Savigny a partir da junção dos termos gregos "phos" (luz) e "phainein" (mostrar), fosfenos são luzes e padrões luminosos que emergem espontaneamente do próprio sistema visual a partir de um conjunto variado de estímulos e em diversos tipos de situações. Estudos sugerem que a visão de fosfenos pode ter tido importante papel na gênese xamânico-religiosa da comunicação gráfica humana desde a arte rupestre (26) até a arte contemporânea (27), passando pelo desenho infantil (28). As primeiras teorias emissivas da visão propostas por filósofos pré-socráticos também têm íntima relação com os fosfenos (29). Estudos laboratoriais envolvendo fosfenos são geralmente baseados na pressão direta do globo ocular (30), na aplicação de um campo magnético sobre a região da cabeça (31) e na aplicação de cargas elétricas em regiões específicas da cabeça (32), mas outros métodos existem (e.g.: estimulação química, sonora, motora e luminosa) e novos métodos e aproximações continuam sendo propostos (33).
Dada a sua natureza entóptica, isto é, interior ao sistema visual, os fosfenos acabaram adquirindo um estatuto bastante ambíguo: ao mesmo tempo extremamente subjetivos - uma vez que vistos apenas pelo observador e sem correspondência exterior - e objetivos - uma vez que manifestam o funcionamento do próprio sistema visual, base fisiológica da visão (34). Assim, em uma seção dedicada aos fosfenos de seu livro sobre o xamanismo como "metáfora religiosa", Michael Ripinsky-Naxon, pôde apresentá-los ao mesmo tempo como uma "iluminação interior" acessível apenas a "xamãs e místicos" e como um "processo neuroquímico", "uma resposta bioquimicamente induzida" que constitui "uma experiência comum a todos" (35). A ideia dos fosfenos como uma comunicação interna e natural ao sistema visual, mas cuja linguagem só é acessível a observadores específicos (e.g.: xamãs), aproximou Ripinsky-Naxon da concepção junguiana dos arquétipos e lhe permitiu propor que fosfenos fossem vistos como "arquétipos do sistema nervoso coletivo" (36), um sistema nervoso que poderia ser compartilhado com toda a humanidade em sua infraestrutura corporal.
Círculos coloridos que se sobrepõem na escuridão, imagens do sol sobrevivendo na retina, padrões luminosos gerados pelo próprio sistema visual... Muito diferente da visão objetivante da câmara escura, que nos oferecia a imagem do mundo em sua realidade exterior e objetiva, a visão subjetiva do laboratório de fisiologia nos oferece a imagem de um mundo entre outros, um mundo repleto de singularidades e idiossincrasias (e.g.: retenção retiniana, visão periférica, visão binocular, limiares da atenção, fenômenos entópicos etc) que era preciso considerar.
Como bem argumenta Crary, a descoberta fisiológica da localização de um ponto cego na exata região da retina onde todas as informações coletadas da luz são reunidas no nervo ótico e transmitidas para o cérebro, foi como que um golpe inesperado na visão objetivante da câmara escura (37). O ponto cego representa aqui o oposto do orifício controlado da câmara escura. Fazendo de um ponto invisível a condição indispensável da visibilidade, essa nova concepção de visão colocava em evidência justamente aquilo que a câmara escura permitia manter em segundo plano: o corpo e a subjetividade do observador.
O estudo de Crary revela, assim, como o observador, já individualizado pela câmara escura, se torna um objeto de investigação e de conhecimento no século XIX, dentro de uma nova concepção subjetiva da visão, "uma visão que havia sido retirada das relações incorporais da câmara escura e realocada no corpo humano" (38). Na passagem da ótica geométrica do século XVII para a ótica fisiológica do século XIX, o observador da câmara escura se transformou no observador do laboratório de fisiologia, investigado na sua normalidade e na sua patologia em busca de uma normatividade científica.
Pontos cegos
O problema da visão objetivante da câmara escura era que, limitando-se àquilo que Dubois chamou de uma "economia geral da luz", deixava no escuro (ou delegava a um observador desencarnado) tudo o que acontece depois que a retina é impressionada. Afinal, qual é o papel da imagem retiniana na visão? Qual é a relação desta imagem retiniana com a versão acabada dela que acreditamos formar em nossa mente? Como explicar que a imagem não nos apareça invertida como ocorre na retina, e que vemos apenas uma cena apesar de termos dois olhos? Boa parte da concepção subjetiva de visão promovida pela fisiologia (39) oferece avanços na compreensão dessas questões, mas também novas questões, em especial ligadas aos limites e limiares da visão, como no caso das ilusões, das alucinações, da visão sinestésica e do papel da intencionalidade na visão.
Ao que tudo indica, a visão subjetiva da psicofísica e da fisiologia do século XIX, diferentemente do que Crary propôs, parece ainda não ter saído da câmara escura, apenas fechado seu único canal de comunicação com o exterior. Trouxe, sim, o corpo e a subjetividade do observador para o centro da atenção, mas fez isso por meio de uma metódica neutralização da visão que, se já não reduz a visão a uma câmara escura recebendo imagens luminosas, a reduz, por sua vez, a um olho imobilizado por um aparato experimental, isolado de seu ambiente vital e social habitual e reduzido a um receptor/processador de estímulos (40). Se o observador objetivante da câmara escura pudesse ser comparado ironicamente ao prisioneiro do Mito da Caverna de Platão, cujo mundo se reduz às imagens projetadas na parede pela luz que vem do exterior, o observador subjetivo da fisiologia seria esse mesmo prisioneiro, só que de noite. Na ausência das imagens projetadas na parede pela luz que vem do exterior, esse observador se torna o locus de observação de toda sorte de comportamentos-limite, certamente reveladores de seus limiares, mas justamente por isso fantasmáticos e inúteis para compreender uma visão móvel, desejante, engajada em um mundo propriamente luminoso. É tal engajamento em um mundo luminoso, quando as criaturas do Sol na Terra saem da câmara escura, que ainda resta considerar.
Notas e Referências Bibliográficas
1. Fechner,G.T. Da anatomia comparada dos anjos.(Trad. Paulo Neves). São Paulo: Ed.34, 1998 [1825], pp.21.
2. Cf. Marchall, M. E. "Gustav Fechner, Dr. Mises, and the comparative anatomy of angels". Journal of the History of the Behavioral Sciences, vol.5,nº1, pp.39-58, 1969, pp.39.
3. Bergson,H. A evolução criadora.(Trad. Bento Prado Neto) São Paulo: Martins Fontes, 2005 [1907], pp.125.
4. Bergson, H., 2005, Op. cit. pp.275.
5. Von Buddenbrock, W. The senses. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1958, pp.12.
6. Burtt., E.T. The senses of animals. London: Wykeham Publications, 1974, pp.1.
7. Cf. Daston,L.;Galison,P."The image of objectivity".Representations, vol.40, pp.81-128, 1992.
8. Crary, J. Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century. Cambridge: MIT Press, 1996, p.38.
9. Latour, B.. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. (Trad. Ivone C. Benedetti) São Paulo: Editora Unesp, 2000 [1987] .
10. Newton, I. Optiks. London: Royal Society, 1704.
11. Crary, J., 1996, Op. cit. pp.40-1.
12. Locke, J. Essay concerning humane understanding. London, 1690.
13. Crary, J., 1996, Op. cit.pp.42-3.
14. Descartes, R. La dioptrique. Leyde, 1637.
15. Crary, J., 1996, Op. cit.pp.48.
16. Crary, J., 1996, Op. cit.pp.53.
17.Se bem que já foram propostas interessantes sobrevivências dessas teorias emissivas da visão na forma daquilo que ele chama de "olho mau [evil eye]" e de "raios de amor [love beams]", e mesmo na experiência genérica de "se sentir observado" (cf, Gross, C. G. "The fire that comes from the eye". The Neuroscientist 5(1):58-64, 1999). Outro possível exemplo contemporâneo interessante é a função háptica da visão, proposta por Gilles Deleuze em seu estudo sobre Francis Bacon: "falaremos de háptico [...] quando a visão descobrir em si mesma uma função de tato que lhe é característica, e que pertence só a ela, distinta de sua função ótica. Diríamos, então, que o pintor pinta com os olhos, mas apenas na medida em que toca com os olhos." (Deleuze, G. Francis Bacon: lógica da sensação. (Trad. Roberto Machado et al.) Rio de Janeiro: Zahar, 2007 [1981], pp.156).
18. Dubois,P. O ato fotográfico e outros ensaios.(Trad. Marina Appenzeller) Campinas: Papirus, 1993 [1983], p.221.
19. Dubois, P., 1993 Op. cit. p.221.
20. Dubois, P., 1993, Op. cit. p.231.
21. Não me parece aceitável, por exemplo, naturalizar o tipo de comportamento estimulado neste tipo de descrição tão comum em textos de fisiologia da visão: "Se você fizer um animal vertebrado olhar para uma janela e então desligar a luz e imediatamente matar o animal, removendo seu olho e tratando-o com certos reagentes químicos, você verá a imagem da janela na retina." (Von Buddenbrock, W. The senses. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1958, pp.21).
22. Cf. Kalloniatis, M.; Luu,C.Psychophysics of vision.In:Kolb,H.; Nelson, R.; Fernandez, E.; Jones, B. (eds.). Webvision: the organization of the retina and visual system. Moran Eye Center:<http://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/psychophysics-of-vision/> (acessado em 17/05/2015), 2011.
23. Crary, J., 1996, Op. cit. pp.67-8.
24. Goethe apud Crary, J., 1996, Op. cit.p.68.
25. Cf.Newton,I."Experiments on ocular spectra produced by the action of the Sun's light on the retina". The Edinburgh Journal of Science, vol.4, pp.75-7, 1831 [1691] .
26. Cf. Lewis-Williams, J.D.; Dowson, T.A. "The signs of all times: entopic phenomena in upper palaeolithic art". Current Anthropology 29(2):201-45, 1988; Bednarik, R. G. "On neuropsychology and shamanism in rock art". Current Anthropology 31(1):77-84, 1990; Dronfield, J.. "The vision thing: diagnosis of endogenous derivation in abstract arts". Current Anthropology 37(2):373-91, 1996; Reichel-Dolmatoff, G. "Drug-induced optical sensations and their relationship to applied art among some colombian indians". Rainforest shamans: essays on the Tukano Indians of the Northwest Amazon. Dartington: Themis Books, 1997; Hodgson, D. "Shamanism,, phosphenes, and early art: an alternative synthesis". Current Anthropology 41(5):866-73, 2000.
27. Hodgson, D. "Graphic primitives and the embeded figure in 20thcentury art: insights from neuroscience, ethology and perception". Leonardo 38(1):55-8, 2005.
28.Kellog, R.; Knoll, M.; Kugler,J. "Form-similarity between phosphenes of adults and pre-school children's scribblings". Nature 208:1129-30, 1965; OSTER, G. "Phosphenes". Scientific American 222(2):82-7, 1970.
29. Cf. Gross, C. G." The fire that comes from the eye". The Neuroscientist 5(1):58-64, 1999; Grüsser, O.-J.; Hagner, M.. "On the history of deformation phosphenes and the idea of internal light generated in the eye for the purpose of vision". Documenta Ophtalmologica vol.74, pp.57-85, 1990.
30. Cf. Tyler, C. W. "Some new entopic phenomena".Vision Research 18:1633-9, 1978; Grüsser, O.-J.; Hagner, M. "On the history of deformation phosphenes and the idea of internal light generated in the eye for the purpose of vision". Documenta Ophtalmologica, vol.74, pp.57-85, 1990.
31. Cf. Kammer, T. "Phosphenes and transient scotomas induced by magnetic stimulation of the occipital lobe: their topographic relationship". Neuropsychologia, vol.37, pp.191-8, 1999.
32. Cf. Knoll, M.; Kugler, J. "Subjective light pattern spectroscopy in the encephalographic frequency rance". Nature, vol.184, pp.1823-4, 1959; Euchmeier, J.; Niedermaier, S. "Excitation of subjective light patterns (phosphenes) at different altitudes". International Journal of Biometeorology, vol.20,nº4, pp.304-8, 1976.
33. E.g.: Bókkon, I. "Phosphene phenomenon: a new concept". BioSystems, vol.92, pp.168-74, 2008.
34. Na inspirada expressão de Richard Latto, padrões estéticos fundamentais ("aesthetic primitives") como as formas reveladas pelos fosfenos "são intrinsecamente interessantes, mesmo na ausência de sentido narrativo, pois entram em ressonância com os mecanismos do sistema visual que os processa" (Latto apud Hodgson, D. "Shamanism, phosphenes, and early art: an alternative synthesis". Current Anthropology, vol.41, nº5, pp.866-73, 2000, p.868).
35. Ripinky-Naxon, M. The nature of shamanism: substance and function of a religious metaphor. Albany: State University of New York Press, 1993, pp.148-9.
36. Ripinsky-Naxon, M., 1993, Op. cit. pp.149-50.
37. Crary, J., 1996, Op. cit. pp.75.
38. Crary, J., 1996, Op. cit. pp.16.
39. Cabe notar que a psicofísica não foi a única área de estudos que promoveu esta concepção de visão, apenas se destacou nesse processo. Outra área que poderia ser destacada nesse processoé a neuroetologia da visão (cf. Camhi, J. M. Neuroethology: nerve cells and the natural behavior of animals. Sunderland: Sinauer Associates, 1984, pp.109-56).
40. Como bem nota Von Buddenbrock," é muito fácil reduzir o olho humano ao nível de uma máquina" (Von Buddenbrock, W. The senses. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1958, pp.91).